
José Pereira da Silva
(organizador e editor)
HISTÓRIA
DA LÍNGUA PORTUGUESA
Cadernos da Pós-Graduação em Língua Portuguesa, n. 01

São Gonçalo (RJ)
2001
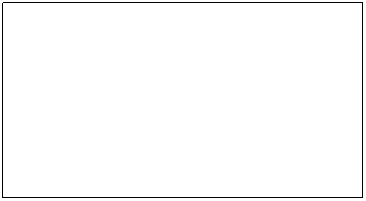
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
DEPARTAMENTO DE LETRAS
COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES
Reitora
Nilcéa Freire
Vice-Reitor
Celso Pereira da Sá
Sub-Reitor de Graduação
Isac João de Vasconcellos
Sub-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa
Maria Andréa Rios Loyola
Sub-Reitor de Extensão e Cultura
André Luís de Figueiredo Lázaro
Diretor do Centro de Educação e Humanidades
Lincoln Tavares Silva
Diretora da Faculdade de Formação de Professores
Mariza de Paula Assis
Vice-Diretor da Faculdade de Formação de Professores
Marco Antônio Costa da Silva
Chefe do Departamento de Letras
Flavio García de Almeida
Sub-Chefe do Departamento de Letras
Fernando Monteiro de Barros Júnior
Coordenador da Pós-Graduação em Língua Portuguesa
Afrânio da Silva Garcia
Coordenador de Publicações do Departamento de Letras
José Pereira da Silva
Editor dos Cadernos de Pós-Graduação em Língua Portuguesa
José Pereira da Silva
APRESENTAÇÃO - José Pereira da Silva
A EVOLUÇÃO DOS PRONOMES DEMONSTRATIVOS DO LATIM AO PORTUGUÊS - José Roberto de Castro Gonçalves
A Evolução dos Tempos Verbais - Priscila Brügger de Mattos
A formação dos pronomes na Língua Portuguesa - Jupira Maria Bravo Pimentel
A INFLUÊNCIA INDÍGENA NOS TOPÔNIMOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - Norma Cristina da Silva Moreira
CONTRIBUIÇÕES AFRICANAS NOS FALARES DO BRASIL - Jaline Pinto da Silva
ORIGEM E USO DO FUTURO DO SUBJUNTIVO - Patrícia Miranda Medeiros
Provérbios: Sabedoria de um povo – Os Provérbios e seus opostos - Nadir Fernandes Rodrigues
PERMUTA ENTRE /b/ E /v/ - José Marcos Barros Devillart
A Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação e a Coordenação de Publicações do Departamento do Letras da Faculdade de Formação de Professores têm o prazer de apresentar-lhe o primeiro número dos Cadernos da Pós-Graduação em Língua Portuguesa, que agora surgem com a finalidade de dar visibilidade à produção acadêmica de seus discentes e docentes da forma mais simples possível.
Os trabalhos aqui divulgados são produzidos, normalmente, como monografias de avaliação discente das disciplinas oferecidas durante o referido curso, bem como outros preparados pelos docentes e utilizados como bibliografia complementar ou básica.
Neste primeiro número, todos os trabalhos foram produzidos como monografias de avaliação da disciplina História da Língua Portuguesa, oferecida pelo Prof. José Pereira da Silva no primeiro semestre do ano 2001, tendo contribuído como autores: Jaline Pinto da Silva, José Marcos Barros Devillart, José Roberto de Castro Gonçalves, Jupira Maria Bravo Pimentel, Nadir Fernandes Rodrigues Cardote, Norma Cristina da Silva Moreira, Patrícia Miranda Medeiros e Priscila Brügger de Mattos, professores pós-graduandos em Língua Portuguesa.
No segundo número, já em fase de organização, serão publicados trabalhos sobre Morfossintaxe da Língua Portuguesa, também resultantes de monografias com a mesma finalidade e sob a orientação do mesmo docente, não ficando necessariamente excluídos os outros.
O organizador dos Cadernos da Pós-Graduação em Língua Portuguesa não se responsabiliza pelas opiniões dos autores, que entregam os textos digitados para a específica finalidade de serem publicados e contribuem com a sua divulgação, adquirindo sempre um pequeno número de exemplares para que se cubram as despesas da publicação.
Neste momento, em que os alunos dos cursos do Departamento de Letras da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo conseguiram o melhor desempenho na Avaliação Nacional de Cursos (o Provão), a pós-graduação não poderia deixar de apresentar também a sua contribuição para manifestar publicamente a satisfação de pertencer a um quadro tão selecionado de colegas de Letras, graduandos e graduados.
Surgidos como uma iniciativa da Coordenação de Publicações do Departamento de Letras, estes Cadernos estão abertos para acolher também, nos próximos números, a contribuição dos ex-alunos e ex-professores do Curso de Pós-Graduação em Língua Portuguesa para que também a produção anteriormente elaborada por esse corpo não fique excluída ou engavetada.
Está sendo preparado também o Catálogo das Publicações do Departamento de Letras, que poderá sair como um volume próprio ou anexo ao segundo número destes Cadernos (o que ainda não está definitivamente resolvido) e estará disponível no início do próximo período letivo.
Esperamos que esta iniciativa seja bastante enriquecedora e que anime os caros colegas (que se iniciam no seu aperfeiçoamento) a publicarem os seus trabalhos e a se esforçarem cada vez mais para a consecução do maior aperfeiçoamento possível em todas as suas produções acadêmicas.
A FFP, o Departamento e seus cursos de Letras também começam a aparecer na listagem dos melhores do País, engrandecendo o trabalho de seus alunos, funcionários e professores, que já podem ser tomados como exemplos a serem seguidos, ao menos no que fazem de bom para o desenvolvimento do ensino superior, da pesquisa e do engajamento com a sua comunidade.
Aguardando as suas críticas e as suas sempre bem desejadas sugestões, a Coordenação de Publicações do Departamento de Letras promete levar absolutamente a sério todas as suas opiniões e corrigir nos próximos números ou reedições todos os erros apontados.
José Pereira da Silva
Organizador e Editor
DEMONSTRATIVOS DO LATIM AO PORTUGUÊS
José Roberto de Castro Gonçalves
Ai, palavras, ai, palavras,
que estranha potência, a vossa
Todo o sentido da vida
Principia à vossa porta.
Cecília Meireles
1- INTRODUÇÃO
Este trabalho visa a estudar a evolução dos pronomes demonstrativos do latim ao português, como também o seu sentido, emprego e funções.
Todo língua possui um sistema de formas, destinado a situar os elementos do mundo biossocial, que interessam à expressão lingüística, no quadro de um ato de comunicação. Em vez de serem representados por formas lingüísticas que os evoquem e simbolizem de acordo com o conceito que tem de cada um deles a comunidade falante, como sucede nas formas nominais e nas formas verbais, eles passam a ser indicados pela posição que ocupam no momento de uma mensagem lingüística. Essas formas, assim meramente indicativas, ou dêiticas em sentido amplo, são os pronomes. Funcionam como o campo mostrativo da linguagem, em face do campo representativo ou simbólico.
Em latim, como é a regra geral, o sistema de indicação dos pronomes tinha para perto de partida o eixo falante–ouvinte, que se estabelece num ato de comunicação.
Ao sistema dos pronomes pessoais correspondia um sistema demonstrativo, em que os elementos exteriores ao falante ou ao ouvinte eram indicados pela sua posição em referência a um ou a outro: hic e iste, e uma série de outros pronomes para o que estava além dessas duas áreas mostrativas.
A partir desse estudo detectou-se o problema e daí justifica a elaboração dessa pesquisa, mostrando que do pronome “ille” provieram os artigos e o pronome pessoal de 3a pessoa – “ele” em língua portuguesa.
2- AS VARIAÇÕES DOS PRONOMES
DEMONSTRATIVOS
2.1- O Sistema Dos Pronomes Demonstrativos
No latim clássico havia três pronomes demonstrativos que correspondiam às três pessoas gramaticais: hic para a primeira, iste para a segunda e ille para a terceira.
Observou-se no latim vulgar, uma certa confusão no uso desses pronomes. É freqüente encontrar-se empregado um no lugar do outro.
Desde o tempo de César, o pronome da segunda pessoa iste substitui o da primeira hic, que nos últimos tempos desaparece inteiramente.
O pronome de identidade ipse, da terceira pessoa, passou então a ocupar o lugar de iste.
J. J. NUNES (1975) afirmou que o latim costumava a designar as três pessoas respectivamente pelos pronomes hic, iste e ille; afora estes, possuía a mesma língua os pronomes ipse e idem, que designavam identidade, sendo o último um composto de outro pronome, is, que era empregado em todos os casos, e de significação contrária a estes alius e alter; o romance, porém, dos quatros últimos ficou só com dois, ipse e alter, deixando de empregar idem e alius, mas no primeiro destes esqueceu a primitiva significação, e, como iste viera a substituir o hic (que igualmente saiu do uso, deixando vestígios apenas nas expressões agora e arc ogano, nas quais, justapondo-se aos substantivos hora e anno, formou como que vocábulos simples) e passara a indicar proximidade, ao contrário de ille, que designava afastamento, por isso o ipse ocupou o lugar por ele deixado. Em vista, pois, desta substituição, resultaram para a nossa língua os seguintes demonstrativos simples:
1a pessoa
masculino feminino neutro
este esta esto
2a pessoa
esse essa esso
3a pessoa
ele ela elo
(NUNES, 1975, p. 246)
Ele diz que o latim costumava reforçar os pronomes, servindo-se de duas partículas: ecce e met, das quais a primeira antepunha e a segunda como que sufixava ao vocábulo sobre o qual pretendia em especial chamar a atenção; semelhante prática devia, sobretudo, ser do gosto do povo, a julgar pelo seu emprego quase exclusivo dos poetas cômicos. Mas, a par de ecce, que, fundido com os pronomes iste e ille, com elisão do e final, ocorre, sobretudo, na poesia arcaica, havia igualmente em latim a expressão eccum, a qual, sendo composta do mesmo advérbio ecce e do pronome is, no caso acusativo, veio a perder a idéia dessa composição e a ser considerada como sinônimo de ecce. Da junção desta partícula com os mencionados pronomes iste, ipse e ille nos três gêneros latinos e número singular provieram os seguintes demonstrativos compostos:
1a pessoa
masculino feminino neutro
aqueste aquesta aquesto
2a pessoa
aquesse aquessa aquesso
3a pessoa
aquele aquela aquelo
(NUNES, 1975, p. 247)
J. J. NUNES afirmou que no século XV não havia diferença sensível entre os pronomes simples e os compostos. É provável, porém, que nos primeiros tempos houvesse tal ou qual ênfase que os diferenciasse no seu emprego; provavelmente, porque essa pequena distinção se perdeu pouco a pouco e as duas formas tornaram-se sinônimas, é que as últimas desapareceram do uso, não sucedendo, todavia, nem podendo suceder o mesmo ao pronome da terceira pessoa, aquele, porque o simples, ele, fora cedo escolhido, para suprir, nos pessoais, a mesma pessoa, tendo a sua conservação, que assim se tornou necessária no masculino, em que, como o simples, e por igual razão, tomou também a forma aquel, e no feminino, obstado, por motivo de simetria, ao desaparecimento do neutro aquelo.
NUNES mencionou que da posposição da partícula met aos pronomes pessoais, principalmente do reforçamento destes com o pronome ipse resultaram expressões, como ipsemet e ego met ipse, nesta última desaparecendo o pessoal, ficou metipse, que daria regularmente medesse, onde, depois, da queda da última sílaba, em virtude da próclise, resultou a forma medês, muito usada na antiga língua, a qual, como a maioria dos nomes em –ês, era quase sempre invariável em ambos os gêneros e números: todavia não é sem exemplo o plural medeses. Mas ao pronome latino ipse o povo, como se tratasse de um adjetivo, dava o superlativo, juntando-lhe a terminação costumada, -issimus, de onde ipsissimus, que se encontra em Plauto; depois esta forma, decerto por haplologia, converteu-se em ipsimus, que se faz uso Petrônio. Ora, assim como se dizia metipse, dizia-se também no fim do Império metipsimu(m), onde o atual mesmo, que foi precedido pela forma meesmo, muito freqüente ainda nos escritores do século XVI, e que, pela queda anormal do –d–, devida provavelmente a próclise evolucionou da mais antiga medesmo, ainda viva no italiano medesimo e reconhecível no antigo francês e provençal medesme.
Afirmou ainda, que do pronome latino alter, no acusativo, resultou o português outro, que ainda por um processo usado no latim, apareceu por vezes a reforçar os já mencionados este, esse, aquele, aos quais se aglutinou por forma tal, que nos clássicos, eles ocorrem como vocábulos simples e, portanto com o sinal do plural apenas no último dos seus componentes, ao contrário da prática de pluralizar ambos, seguida por muita gente, quer falando, quer escrevendo.
Em igual pronome tem origem outrem, que rigorosamente deve ser contando entre os indefinidos, em virtude da sua significação vaga e indeterminada e na língua arcaica, como no castelhano antigo, devia receber a acentuação na última sílaba, parecendo terem contribuído para isso e para a troca do –o final em –em os pronomes de significação quase idêntica, quem e alguém. Mais tarde esse pronome, que no antigo português tinha as formas outre, outri e outrim, retomou a acentuação do primitivo outro que é empregado pelo povo, precedido de artigo no mesmo sentido daquele, em expressões como lá diz o outro; como diz o outro ou como o outro que diz.
Em língua portuguesa persiste o sistema tripartido latino: situação próxima ao falante (este), situação próxima ao ouvinte (esse), situação afastada do falante e do ouvinte (aquele). Conceptualmente, apenas se simplificou a série de 3a pessoa latina. Outras língua românicas, como o italiano e o romeno, criaram um sistema bipartido (igual ao padrão inglês – this ® that), e o francês reduziu praticamente a dêixis demonstrativa ao elemento único ce.
Segundo MATTOSO CÂMARA JÚNIOR (1976) foi o pronome iste, demonstrativo da 2a pessoa, que passou para indicar a 1a e a casa vazia da 2a foi preenchida por ipse, que tinha uma função especial em latim. Esse deslocamento de formas foi determinado pelo abandono do demonstrativo de 1a pessoa hic. Talvez o deslocamento de iste tenha sido, a princípio, uma extensão de sua área, para se opor o campo em conjunto do eixo falante–ouvinte a tudo que lhe era exterior (ille). Se foi isto que se deu, o antigo sistema tripartido logo retomou seu funcionamento, com a restrição de iste para o campo do falante e a adjudicação de ipse para o campo do ouvinte, propiciada pela presença enfática de ipse junto às três pessoas pronominais, especialmente a 2a.
Ele disse também, que no singular, as formas portuguesas correspondem ao nominativo latino (em que o masculino é de tema em –e, mas recebe a desinência –a de feminino); no plural estabeleceu-se a desinência –s, de acordo com o padrão nominal.
MATTOSO CÂMARA JÚNIOR (1976) afirmou que do ponto de vista da categoria de gênero, os demonstrativos se caracterizam, em português, pela presença do gênero neutro, que foi eliminado das formas nominais.
O nominativo–acusativo neutro latino de iste, ipse, ille, a saber – istud, ipsum, illud, subsistiram, em função substantiva exclusivamente e sem categoria de plural para indicar “coisas”, isto é, seres vistos como inertes ou inativos. A noção inicial do gênero neutro, que se esvaíra em latim nos nomes, tornando-se aí, uma idiossincrasia mórfica, persistiu fundamentalmente nos demonstrativos latinos, como substantivos, e daí, sempre em função substantiva, passou aos nossos demonstrativos. Os reflexos portugueses de istud, ipsum, illud servem para assinalar num campo mostrativo, como indivíduo singular, o que não pertence ao que concebemos como do reino animal.
Entretanto, o latim vulgar desde cedo usou reforçar o demonstrativo pela anteposição da partícula ecce “eis”; ecce eum (com o acusativo masculino de is) aglutinou-se a ela na forma eccum e passou a equivaler a ecce. Uma variante de eccum, accum, perdendo a nasal final, entrou dessa maneira nos demonstrativos reforçados portugueses aqueste, aquesse, aquele, que figuravam na fase arcaica da língua, em variação livre com a forma simples. Naturalmente, aquele se impôs logo exclusivamente, fora da motivação enfática, para uma distinção formal entre o demonstrativo e o pronome pessoal de 3a pessoa (ele), também saído de ille.
2.2- A Evolução do Pronome Demonstrativo “Ille”
em Artigo e como Pronome Pessoal de 3a Pessoa “Ele”
Foi de um demonstrativo que saiu o artigo nas línguas românicas.
Segundo MATTOSO CÂMARA JÚNIOR (1976), o demonstrativo ille, na sua forma acusativa, sem intento de localização no espaço, passou a ser usado diante de um nome substantivo para opor o indivíduo definidamente visualizado a qualquer outro da mesma espécie. Na função de artigo, uma forma de transição lo perdeu afinal o /l/ inicial, para reduzir-se a atual forma o. Assim, a partícula ficou resumida no tema, que, como –o átono final, é suprimido, dentro da descrição atual da língua, pela adjunção da desinência –a de feminino.
Daí, o artigo português: o (masculino), a (feminino), singular e plural, respectivamente, os, as.
Categoricamente, ele continua a ser uma partícula pronominal demonstrativa. Assinala o caráter definitivo de uma posição em um campo mostrativo ideal, de que participam o falante e o ouvinte.
J. J. NUNES (1975) esclareceu que não possuía artigo na língua latina. Quando, porém, havia um substantivo que se queria mais especialmente determinar, costumava ela acompanhá-lo do pronome ille, que ora colocava antes, ora depois dele. Este processo, usado na linguagem literária, existia igualmente na popular, que empregava com o mesmo fim, além daquele, o pronome ipse, segundo se depreende não só de textos posteriores ao latim clássico, mas também dos vestígios que desse uso estes dois pronomes deixaram nas línguas românicas. Ainda hoje, a nossa serve-se por vezes dos pronomes demonstrativos, este, esse, aquele em casos em que poderia perfeitamente substituí-los por artigos. É quando o substantivo a que vem junto se acha restringindo na sua significação por uma proposição relativa, como se vê nas frases seguintes: estes homens que aqui estão; esse indivíduo que me recomendas; aqueles estudantes que são aplicados. Falando, pois, rigorosamente, o artigo definido é um verdadeiro pronome, quer com respeito ao seu emprego, quer sobretudo relativamente à sua origem.
J. J. NUNES (1975) afirma que os demonstrativos de que a língua vulgar principalmente se servia, quando se referia a uma pessoa ou coisa de todos conhecida, eram ille e ipse, mas do fato de estar o primeiro mais extensamente representado nas línguas românicas do que o segundo deduz-se que a língua vulgar tinha por ele especial predileção. No acusativo o pronome ille deu regularmente nos dois gêneros elo, ela, formas que, além do antigo italiano, também possuía o leonês ainda no século XVI, e pelo seu caráter essencialmente proclítico passaram a lo, la, como, mais ou menos alteradas se apresentam na maioria das línguas congêneres da nossa. Sucedia, porém, que na fala, em que soavam como se constituíssem um vocábulo único a palavra e o lo ou la que a precedia ou seguia, freqüentemente estes se achavam entre vogais e, como em tais casos o gênio da língua repelia o –l–, daí a sua transformação posterior em o ou a, transformação esta que fez com que exteriormente o artigo tanto se afastasse do das outras línguas no português e no galego igualmente refratário à conservação do l intervocálico, e se realizava, quer em frases em que o lo fazia de verdadeiro pronome demonstrativo, quer naquelas nas quais desempenhava a função de artigo.
J. J. NUNES (1975) esclarece que assim como o romance, seguindo processo idêntico ao grego, fora tirar de um dos pronomes demonstrativos o seu artigo definido, para formar o indefinido, procedeu da mesma forma, indo buscá-lo ao primeiro dos numerais cardinais.
J. J. NUNES (1975) afirma que as formas o, a, os, as, foram a princípio de uso restrito, limitando-se o seu emprego apenas ao caso apontado de se achar o l entre as vogais. Mais tarde, porém, ainda em época anterior à fixação da língua pela escrita, como pode-se notar nos mais antigos documentos, o que era especial tornou-se geral, sem que todavia desaparecessem por completo os vestígios das que as precederam. Com efeito, locuções possuiu e possui ainda a língua atual em que elas continuam a subsistir, as quais sem dúvida ascendem a tempo anterior à transformação; pela queda do o ou a do artigo lo ou la motivada pelo caráter proclítico deste e também porque tais frases soavam como se fossem uma única palavra, o –l– não podia desaparecer, por se não encontrar entre vogais. Mas, afora estas locuções, que ficaram como fossilizadas, as antigas formam lo, la, quer artigos, quer pronomes, ainda são pela língua hodierna usadas, embora não com a extensão da antiga, pois, enquanto esta a elas recorria, sempre que o vocábulo que as antecedia terminava em r ou s, aquela só o faz depois de uma forma verbal, cuja última letra sejam estas consoantes e a mais z, ou em seguida aos pronomes nos e vos e advérbio. Nestes vocábulos os r, s, z primeiro assimilaram-se ao l do artigo ou pronome, depois os dois ll reduziram-se a um único, caindo na fala e na escrita de hoje o l, que viera substituir as consoantes.
3- OS PRONOMES DEMONSTRATIVOS
SENTIDO, EMPREGO E FUNÇÕES
3.1- Sentido e Emprego dos Pronomes Demonstrativos
Os pronomes demonstrativos portugueses formam um sistema ternário, cuja organização é absolutamente divergente do sistema dos demonstrativos franceses. Esta organização baseia-se numa certa visão do espaço e, de um modo mais geral, de todo o universo sensível e inteligível. É pois impossível fazer compreender termo a termo um demonstrativo francês a um demonstrativo português. Só compreendendo a organização do sistema se poderá sentir, em cada caso particular, o valor exato de um determinado demonstrativo e encontrar-lhe equivalente no sistema francês.
Tudo se baseia na divisão do espaço e do mundo em três domínios. Simplificando um pouco, poderemos dizer, com os gramáticos portugueses e brasileiros, que estes três domínios correspondem às três pessoas do verbo:
1) Domínio de este = Domínio do eu, nós (aquilo em que o locutor se vê presente, aquilo que ele se atribui).
Adv. de lugar correspondente: aqui.
2) Domínio de esse = domínio do tu, vós (aquilo que o locutor atribui ao interlocutor ou destinatário).
Adv. de lugar correspondente: aí.
3) Domínio de aquele = domínio do ele, ela, eles (aquilo que o locutor atribui ao objetivo de que fala).
Adv. de lugar correspondente: ali.
(CARVALHO, 1989, p. 141)
É importante ressaltar que este sistema é, no essencial, idêntico ao do espanhol.
Este, esta, isto.
Empregar-se-á estes demonstrativos para a primeira pessoa do singular ou do plural –eu ou –nós, para tudo o que se situa no local.
Exs.:
Esta monografia (a minha).
Aqui nesta faculdade.
Só temos este filho.
Nesta casa (onde habito).
Neste mundo.
Pegue isto!
Esse, essa, isso.
Os demonstrativos citados aplicam-se a tudo o que o locutor atribui à pessoa (ou às pessoas) a quem se dirige.
Exs.:
Esse livro de que você me falou.
Não me diga isso!
Essa monografia que estou escrevendo.
Aquele, aquela, aquilo.
Estes demonstrativos aplicam-se aquilo que não é atribuído pelo locutor nem a ele próprio nem ao seu interlocutor. Usa-se portanto com a 3a pessoa e com o advérbio de lugar ali.
Ex.: Ali naquela casa onde ela mora com a mãe.
Nas determinações do tempo mais ou menos longo que abranja o momento em que se fala, emprega-se o pronome demonstrativo este = esta semana, este mês, este ano.
O demonstrativo este serve também para marcar o tempo muito próximo ao momento atual, mas este uso reduz a poucas expressões: esta noite (pode referir-se tanto à noite passada como a que virá), esta manhã (a manhã de hoje), estes dias (passados ou mais próximos).
Em frases como as precedentes, nisto, indicando tempo, é expressão consagrada que não se substitui por nisso. Não obstante dizemos nesse instante, nesse dia, nessa hora, nesse ano, aludindo a uma época distante da atual: E logo nesse instante começamos a elaboração do trabalho.
A simples anteposição do pronome esse a um substantivo supre muitas vezes a locução adverbial de tempo: Assim termina esse dia maravilhoso!
O pronome demonstrativo este sugere a noção de proximidade em relação à pessoa que fala; por isso também é empregado, na linguagem animada, para dar a impressão de que nos interessa muito de perto alguma coisa ou pessoa, conquanto de fato se ache um tanto afastada. O contrário se dá com o demonstrativo esse.
Com freqüência, na linguagem animada, nos transportamos pelo pensamento a regiões ou épocas distantes, a fim de nos referirmos a pessoas ou objetos que nos interessam particularmente, como se estivéssemos em sua presença. Lingüisticamente, esta aproximação mental traduz-se pelo emprego do pronome este (esta, isto) onde seria de esperar esse ou aquele. (CUNHA, 1986, pág.: 324)
Os exemplos abaixo foram colhidos das obras de José Lins do Rego:
“Amarelo infeliz. Se fosse outro, dizia Deodato, já tinha mandado este mondrongo para as profundas dos infernos.” (MR, 45)
“– Este Alfredo Gama é um danado, dizia D. Júlia, elogiando o compositor.” (U, 89)
Pode-se afirmar que o pronome demonstrativo este, a imaginação aproxima de nós, coisas da realidade afastada; com o pronome esse, a imaginação afasta de nós coisas que estão ou poderiam estar próximas.
3.2- As Funções Anafórica e Dêitica
dos Pronomes Demonstrativos
O sistema dos pronomes demonstrativos em português funciona não só para uma indicação no espaço em que se situam falante e ouvinte (função dêitica, propriamente dita), mas também, no âmbito do contexto lingüístico, o que constitui a sua função anafórica.
Os pronomes demonstrativos situam a pessoa ou a coisa designada relativamente às pessoas gramaticais. Podem situá-la no espaço ou no tempo. (CUNHA, 1986, pág.: 321)
“Vivi; pois Deus me guardava
Para este lugar e hora!” (G. DIAS, PCPE, 269)
Segundo CUNHA (1986), a capacidade de mostrar um objeto sem nomeá-lo, a chamada função dêitica (do grego deiktikós = “próprio para demonstrar, demonstrativo”), é a que caracteriza fundamentalmente esta classe de pronomes.
Mas os demonstrativos empregam-se também para lembrar ao ouvinte ou ao leitor o que foi mencionado ou o que se vai mencionar:
“Depois vieram outros e outros, estes fincados de leve, aqueles até a cabeça.” (M. LOBATO, U, 110)
“Minha tristeza é esta –
A das coisas reais.” (F. PESSOA, OP, 100)
É a sua função anafórica (do grego anaplorikós = “que faz lembrar, que traz à memória”).
Conforme esclarece J. MATTOSO CÂMARA JÚNIOR (1976), como pronomes anafóricos, os demonstrativos servem a um campo mostrativo centrado no falante. O sistema tripartido, fundamentado na oposição falante–ouvinte, perde a rigor seu sentido. O que se cria então, na realidade, é a oposição entre o âmbito contextual do momento da comunicação e quaisquer outros, anteriores ou posteriores, de que o falante se acha atualmente afastado. Em outros termos, a série este – esse – aquele se reduz a outra (este/esse) – aquele, do tipo bipartido italiano, romeno ou inglês.
Há assim uma discrepância entre o sistema de demonstrativo na função dêitica e o que atua na função anafórica.
A língua escrita, tanto em Portugal como no Brasil, procura apesar de tudo, manter estreme a distinção entre este e esse para referências dentro do contexto lingüístico. Mas a regra, que criou para tal fim, de se empregar esse para o que acaba de ser dito, e este para o que vai ser dito em seguimento, é uma convenção fora da realidade lingüística e não é rigorosamente obedecida. A relutância contra ela é muito maior no Brasil do que em Portugal, é certo. A norma imanente da língua escrita brasileira é usar esse, em oposição a aquele, para a comunicação global do momento, e recorrer a este como uma variante enfática de esse. Na própria função dêitica, o sistema tripartido está se tornando inseguro no Brasil, com a tendência a suprimir a discrepância entre o sistema tripartido e o bipartido da função anafórica.
4- CONCLUSÃO
Esta exposição teve como um dos objetivos fazer um levantamento dos pronomes demonstrativos do latim ao português e a evolução que se deu do pronome “ille”.
Do pronome “ille” originou os artigos na língua portuguesa, como também o pronome pessoal de 3a pessoa “ele”. Observamos que na língua latina não possuía artigos e quando queriam enfatizar um substantivo utilizavam o pronome “ille” diante do mesmo.
Na língua portuguesa temos os artigos, os quais têm a função de substantivar as palavras de qualquer classe morfológica.
Após refletirmos sobre as funções dos pronomes demonstrativos chegamos a uma conclusão, que as funções dêitica e anafórica têm uma importância relevante na comunicação, pois as mesmas funcionam não só para uma indicação no espaço em que se situam falante e ouvinte, mas também, no âmbito do contexto lingüístico.
Acreditamos que este trabalho venha nos auxiliar no conhecimento da “História da Língua Portuguesa” e motivar outras pesquisas, uma vez que o assunto oferece possibilidades de ser ampliado.
5- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática Latina. Curso único e Completo. 27a ed. São Paulo : Saraiva, 1997.
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37a ed. Revista e ampliada. Rio de Janeiro : Lucerna. 2001.
CAMARA, Junior, J. Matoso. História e Estrutura da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro : Padrão, 1976.
CARDOSO, Zélia de Almeida. Iniciação ao Latim. Série Princípios. 3a ed. São Paulo : Ática.
CARVALHO, Margarida Chorão de. Manual da Língua Portuguesa (Portugal – Brasil) – Tradução. Editora: Coimbra. Coleção: Lingüística. 1989. p.: 139 a 147.
COUTINHO, Ismael de Lima. Pontos de Gramática Histórica. 7a ed. Rio de Janeiro : Livro Técnico, 1976.
CUNHA, Celso Ferreira da. Gramática de Língua Portuguesa. 11a ed. Rio de Janeiro : FAE. 1986.
FARIA, Ernesto. Gramática da Língua Latina. Revisão de Ruth Junqueira de Faria. Brasília : FAE, 1995.
NUNES, José Joaquim. Compêndio de Gramática Histórica Portuguesa – Fonética e Morfologia. 8ª ed. Livraria Clássica Editora, 1975.
SAID ALI, Manuel. Gramática Histórica da Língua Portuguesa. Melhoramentos. Volume: 19. 1971.
TEYSSIER, P. História da Língua Portuguesa. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
Priscila Brügger de Mattos
Introdução
Este trabalho tem objetivo mostrar a evolução dos tempos verbais do modo Indicativo desde o Latim até o Português atual. Mostrando, assim, as perdas e inovações ocorridas.
As conjugações latinas
Segundo a gramática latina, os verbos distribuíam-se por quatro conjugações, caracterizadas pela vogal do tema, as quais tinham as seguintes terminações no infinitivo:
1ª - áre (amáre)
2ª - ére longo (debére)
3ª - êre breve (vendêre)
4ª - íre (puníre)
Tal distribuição era um tanto artificial, visto que não correspondia totalmente às formas vivas da língua corrente, e, assim não era respeitada em todas as minúcias.
Ora, no latim corrente lusitânico os verbos da terceira incorporavam-se à segunda; passando alguns à quarta.
Desse modo as quatro conjugações reduziram-se a três:
1ª - are: mais numerosa de todas.
2ª - ére: contém os da segunda e a maioria dos da terceira.
3ª - íre: é a antiga quarta, acrescida com alguns da terceira.
Já no latim a primeira conjugação era a mais produtiva, visto que os empréstimos a ela melhor se adaptavam. Exemplos: roubare (origem germânica) > roubar; trottare (origem germânica) > trotar; gûbernáre (origem grega) > governar etc.
Além disso, nela se infiltravam verbos doutras conjugações. Exemplos: molliare (por mollire) > molhar; torrare (por torrere) > torrar; terráre (por terrere) > aterrar etc.
As novas formações por ela se modelavam. Exemplos: altiare (de altus) > alçar; cantare (cantum) > cantar; usare (de usus) > usar etc.
A segunda conjugação é a formadora dos verbos incoativos, isto é, daqueles que indicam começo de ação. Exemplos: permanescére (de manére) > permanecer; parescére (de parere) > parecer; perescére (de perire) > perecer etc.
A terceira conjugação é de todas a mais pobre.
Como conseqüência desse estado de coisas do latim corrente, há, em português, três conjugações, caracterizadas pelas respectivas vogais temáticas.
Vogal temática é a que fica entre a raiz do verbo, sua parte primária irredutível, e a desinência. Vê-se claramente no infinitivo:
1ª amar – raiz am; vogal temática a; desinência r;
2ª beber – raiz beb; vogal temática e; desinência r;
3ª partir – raiz part; vogal temática i; desinência r;
O verbo pôr é atemático no infinitivo, pois perdeu o – e que tinha na língua antiga, onde se dizia poer. Por essa razão incluímos esse verbo, com os compostos, entre os irregulares da segunda conjugação. Observemos que na segunda e terceira pessoas do presente do indicativo aparece a vogal característica: tu pões, ele põe, eles põem.
Assim, pode-se estabelecer o quadro da conjugação no latim vulgar lusitânico com os seus correspondentes no latim clássico e respectivos resultados no português.
|
Conjugações |
Latim Clássico |
Latim Vulgar |
Português |
|
|
|
|
|
|
1ª |
- áre |
- are |
-ar |
|
2ª |
- ére |
-ére (-ére ou –êre) |
-er |
|
3ª |
- êre |
-íre (-íre ou –ére ou –êre) |
-ir |
|
3ª |
- íre |
|
- |
Os tempos verbais
A conjugação do verbo latino tem por base a oposição de dois grupos de tempos: o do infectum e o do perfectum. Os tempos do infectum exprimiam a ação ou processo em seu curso de duração (aspecto imperfeito), ao passo que os do perfectum indicavam uma ação ou processo concluídos ou terminados (aspecto perfeito).
Assim, pertenciam ao tema do infectum: o presente, o imperfeito, e o futuro imperfeito do indicativo. E se formavam do tema do perfectum: o perfeito, o mais-que-perfeito e o futuro perfeito do indicativo.
|
Conjugações |
1ª |
2ª |
3ª (atemática) |
3ª (temática) |
4ª |
|
|
Infectum |
Presente |
Amo |
Vídeo |
Lego |
Cápio |
Áudio |
|
Imperfeito |
Amabam |
Videbam |
Legebam |
Capiebam |
Audiebam |
|
|
Futuro |
Amabo |
Videbo |
Legam |
Cápiam |
Áudiam |
|
|
Perfectum |
Perfeito |
Amavi |
Vidi |
Legi |
Cepi |
Audivi |
|
Mais-que-perfeito |
Amáveram |
Víderam |
Légeram |
Céperam |
Audíveram |
|
|
Futuro Perfeito |
Amávero |
Vídero |
Légero |
Cépero |
Audívero |
|
Perdas e Inovações da Conjugação Latina
Vejamos o que ocorreu na evolução dessas formas verbais.
O Presente do Indicativo manteve-se: amo > amo; debo (por debeo) > devo; vendo > vendo; puno (por punio) > puno.
O Imperfeito do Indicativo igualmente se manteve: amabam > amava; debeam (por debebam) > devia; vedeam (por vendebam) > vendia; puniam (por punibam) > punia.
O Futuro Imperfeito do Latim Clássico não se manteve no latim vulgar. Quer se tratasse da forma em -bo, da 1ª e da 2ª conjugações (amabo, debebo), quer se tratasse da forma em – am, da 3ª e da 4ª (vendam, puniam), foi substituído por uma perífrase, que já aparecia nos escritores da decadência, a qual era construída de um verbo no infinitivo e do presente do indicativo de habere: Amare habeo (compare-se ao português hei de amar). Tendendo a se transformarem em simples terminações verbais, as formas do presente do indicativo de habere contraíram-se através de alterações fonéticas violentas, mas não anômalas: habeo > aio > ai > ei.
Dessa forma, em amarei, a terminação – ei está por hei, do verbo haver, e a consciência da composição ainda se observa na possibilidade de intercalar entre as formas primitivas o pronome: amar-te-ei. Temos, pois: amare habeo > amarei; debere habeo > deverei; vendere habeo > venderei; punire habeo > punirei.
Perfeito
O Pretérito Perfeito do Indicativo manteve-se: amai (por amavi) > amei; debei (por debui) > devi; vendei (por vendedi e este por vendidi) > vendi; punivi > puni.
Mais-que-perfeito
O Pretérito-mais-que-perfeito do Indicativo manteve-se através das formas sincopadas, que predominaram no latim vulgar: amaram (por amavêram) > amara; deberam (por debiêram) > devera; venderam (por vendidêram) > vendera; puniram (por punivêram) > punira.
Futuro Perfeito
O Futuro Perfeito do Indicativo, fundindo-se com o pretérito perfeito do subjuntivo produziu um tempo novo: o futuro do subjuntivo.
Para indicar o Futuro do Perfeito ou o sentido condicional, desenvolveu-se tardiamente, no latim vulgar, uma nova forma verbal – o Futuro do Pretérito. Constituindo-se, a exemplo do Futuro Imperfeito do Indicativo, de um infinitivo seguido do Imperfeito do Indicativo de habere, sua evolução foi paralela à daquele modelo: amáre habébam > amaria; debére habébam > deveria; vendêre habebam > venderia; puníre habebam > puniria.
A Conjugação Portuguesa
De conformidade com isso, podemos dizer que a conjugação portuguesa se compõe de suas famílias: a do presente e a do perfeito.
À primeira, pertencem:
· Presente
· Imperfeito
· Futuro do presente
À segunda, pertencem:
· Pretérito perfeito
· Pretérito mais-que-perfeito
· Futuro do pretérito
|
Conjugações |
1ª |
2ª |
3ª |
|
|
Presente |
Presente |
Amo |
Vendo |
Parto |
|
Imperfeito |
Amava |
Vendia |
Partia |
|
|
Futuro do Presente |
Amarei |
Venderei |
Partirei |
|
|
Perfeito |
Pretérito Perfeito |
Amei |
Vendi |
Parti |
|
Pretérito mais-que-perfeito |
Amara |
Vendera |
Partira |
|
|
Futuro do Pretérito |
Amaria |
Venderia |
Partiria |
|
Conclusão
À proporção que se distanciava do seu centro, e língua latina ia sofrendo alterações e simplificando sua estrutura. Logo, foram várias as transformações ocorridas na língua até o Português atual.
Um exame superficial das formas verbais nos mostra que na evolução do latim para o Português, nem sempre os verbos se conservavam nas conjugações de origem. Podemos citar como exemplos os verbos: fazer, agir e pôr; que de acordo com a gramática latina, pertencem à 3ª Conjugação.
Há correspondência entre formas verbais latinas e portuguesas, embora nem sempre se empreguem do mesmo modo em uma língua e em outra língua. Podemos citar como exemplos: o imperfeito (era < erat) o perfeito (pensou < pensavit) e o mais-que-perfeito do indicativo (voltara < vol (u) tarat, por vol (u) taverat).
Como compensação às evoluções ocorridas, o latim criou novas formas verbais: os futuros do indicativo (presente e pretérito) o último também chamado de condicional e o futuro do subjuntivo.
Bibliografia
ALI, M. Said. Gramática Secundária e Gramática Histórica da Língua Portuguesa. [Brasília] : UnB, 1964.
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 13ª ed. São Paulo, 1968.
BUENO, Francisco da Silveira. A Formação Histórica da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro : Acadêmica, 1955.
CARDOSO, Wilton e CUNHA, Celso. Estilística e Gramática Histórica. Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro, 1978.
COUTINHO, I.L. Gramática Histórica. Rio de Janeiro : Acadêmica, 1974.
NETO, Serafim da Silva. Introdução ao Estudo da Filologia Portuguesa. 2ª [Rio de Janeiro] :Grifo, 1976.
na Língua Portuguesa
Jupira Maria Bravo Pimentel
É fato conhecido que do latim se originou o novo sistema lingüístico.
Fatos aparentemente simples envolvem, na verdade, uma série de questões entrelaçadas que podem dar margem a discussões enriquecedoras no tocante à mudança e à variação lingüística.
Este breve trabalho tem por finalidade estudar os pronomes em sua estrutura morfossintática numa perspectiva diacrônica e sincrônica.
Propõe também uma rápida apreciação sobre a relação da evolução lingüística à evolução histórico-social, focalizando o falante e sua necessidade de se comunicar.
I. Introdução
Sabemos que o português vem do latim, porém, esse latim não é o mesmo das classes cultas de Roma. Foi do latim vulgar que nasceram as línguas românicas, da modalidade falada, da qual pouca história escrita restou e chegou a nossos dias.
Objetiva-se, neste trabalho, realizar um breve estudo sobre os pronomes, que são na sua forma lingüística elaborada e complexa, “sinais” que indicam em vez de nomear.
Na presente pesquisa, serão adotados procedimentos de análise descritiva e histórica. Tomar-se-á como ponto de partida o latim vulgar, visando depreender sua estrutura conforme apresentado por Mattoso Câmara (1979), Silva Neto (1952) e Ismael Coutinho (1976).
Na seqüência, procurar-se-á demonstrar a organização do sistema lingüístico da língua portuguesa, levando em consideração as alterações morfossintáticas ocorridas.
Ao final, então, comentar-se-á sobre a evolução lingüística e sua ligação com a evolução histórico-social face à necessidade de comunicação, no eixo falante-ouvinte.
Temos conhecimento de que a vida social oscila entre a imitação dos antigos e a difusão das inovações, operando em direções diferentes: enquanto a primeira tende a perpetuar e valorizar o antigo, a segunda empenha-se por coletivar as inovações.
É de capital importância a estrutura da sociedade. As inovações lingüísticas têm que levar em conta as condições sociais dos falantes que fixam as novas formas e dão andamento às mudanças em potencial.
II. Desenvolvimento
A- Considerações gerais
A língua possui um conjunto de elementos destinados a situar o universo biossocial, que interessam à expressão lingüística, no ato da comunicação.
Dentre este, há um certo grupo de vocábulos, que, se diferenciam. Esses vocábulos, meramente indicativos são os pronomes. De maneira geral, eles possuem três noções gramaticais:
a-
A primeira é a noção de pessoa gramatical. Assim se situa a referência
do pronome no âmbito do falante, no do ouvinte ou fora da alçada dos dois
interlocutores.
A noção de pessoa gramatical se realiza lexicalmente por vocábulos distintos,
como: eu, tu, ele, este, esse, aquele.
b- A segunda noção gramatical, própria dos pronomes, é a existência em vários deles de um gênero neutro em função substantiva, quando a referência é a coisas inanimadas, como: isto, isso, aquilo. Por outro lado, há formas específicas para seres humanos, com alguém, ninguém e outrem.
c- A terceira noção gramatical é uma categoria “casos”. Os pronomes pessoais distinguem uma forma “reta”, para sujeito, e uma ou duas formas oblíquas, servindo umas como complemento aglutinado ao verbo, como: falou-me e outras com complemento regido de preposição, como: falou de mim.
Em latim, o sistema de indicação dos pronomes tinha como ponto de partida a relação estabelecida num ato de comunicação falante – ouvinte.
Havia assim formas para indicar o falante: “ego” – a si mesmo (ou seja, a pessoa que no momento fala); “tu”- quando a um dele se dirigia outro falante.
Havia também a possibilidade do falante se expressar no nome de outras pessoas ou de se dirigir a mais de um ouvinte. Tal possibilidade era caracterizada com a existência de uma forma “nós” (o falante e mais alguém), e de outra forma “vós”, para mais de um ouvinte.
A esse sistema, chamado de “pronomes pessoais”, correspondia um sistema demonstrativo, em que os elementos exteriores ao falante ou ao ouvinte eram indicados pela sua posição em referência a um ou a outro.
A língua latina possuía um sistema de formas vocabulares, que se opunham aos demonstrativos no sentido de assinalarem a ausência de uma indicação de posição. Também se opunham aos nomes, em geral, porque, ao mesmo tempo, eram vazios de representação específica.
Em virtude desse duplo caráter, serviam nas perguntas para designar o elemento desconhecido sobre o que se queria informar do ouvinte. São, por isso, usualmente denominados na gramática latina como “indefinidos – interrogativos”.
B. A evolução da formas pronominais
e o seu sistema em português.
1. As formas pronominais
1.1. Os pronomes pessoais
Eram mais empregados no latim vulgar que no clássico.
Segundo Mattoso, a melhor denominação para as três formas portuguesas de um pronome pessoal é:
a. forma isolada – tônica e livre;
b. forma dependente adverbal – clítico que pode ficar em próclise ou ênclise em relação ao vocábulo verbal;
c. forma com preposição regente – tônica mas dependente, porque só aparece associada a uma preposição.
Em eu e tu que provêm respectivamente de ego e tu, não houve propriamente mudança funcional; o que não aconteceu com as outras duas formas portuguesas. Mim origina-se do dativo latino sob o seu aspecto contrato mi (em vez de mihi) e ti e si, de formas latinas ti, si, cunhadas pelo modelo de mihi e substituídos em latim vulgar aos dativos tibi, sibi. Me, te, se, são reflexos do acusativo-ablativo me, te, se. Mas em português os clíticos adverbais indicam objeto direto ou indireto, isto é, equivalem a um acusativo-dativo, enquanto a forma com preposição regente, saída do dativo latino, corresponde a um ablativo.
Para a 1ª e 2ª pessoa do plural, só há em português uma forma – nós e vós, respectivamente. Acontece que, como clítico adverbal, ela perde o vocalismo o do quadro das vogais tônicas e apresentam /u/, escrito –o-, do quadro átono final.
O subsistema de 3ª pessoa, criado na fase românica, apresenta uma forma livre e tônica, variável em gênero e número pelo modelo dos nomes – ele, eles, ela, elas, e duas formas clíticas adverbais, que conservam a oposição latina entre acusativo e dativo. A forma acusativa, para objeto direto, com um feminino e um plural também pelo modelo dos nomes – o, a, os, as. A forma de dativo, para objeto indireto, não tem gênero, mas tem plural em – s lhe, lhes.
Todas essas formas de 3ª pessoa se prendem ao demonstrativo latino ille. Foi o nominativo, masculino ilhe, feminino ilha, que originou o português ele, ela. O plural com –s é uma criação portuguesa pelo padrão do plural dos nomes. A partícula o, a, os, as provém do acusativo latino de ille, em suas quatro formas de masculino, feminino, singular e plural – illem, illam, illos, illas, submetidas a um enfraquecimento articulatório gradual, que atingiu a vogal inicial e a consoante do radical.
Na língua coloquial do Brasil esse subsistema, de 3ª pessoa foi mudado. Lhe com plural – s passou a forma adverbal para o ouvinte tratado em 3ª pessoa, em identidade de função com te, enquanto o, a, os, as está ficando em desuso. Assim, a 3ª pessoa se reduz a forma ele, eles, ela, elas em qualquer função sintática.
Porém, a língua escrita e a oral formalística mantêm em vigor o sistema tradicional.
Interessante é que o sistema de pronomes pessoais em português é a rigor dicotômico. De um lado há a estrutura heterônima latina, como: eu, tu, nós, vós; de outra parte, a série de 3ª pessoal com a estrutura nominal de feminino em –a e plural em –s. Os primeiros referem-se às pessoas que participam da comunicação lingüística; o segundo substitui no contexto lingüístico um nome substantivo.
1.2. Os possessivos
O latim clássico usava a forma adjetiva do pronome pessoal em concordância com o nome substantivo dado. São esses pronomes pessoais adjetivos que a gramática latina denominou os “possessivos”, partindo das construções em que o adjetivo pronominal designava o possuidor de uma coisa.
Os possessivos eram da 2ª declinação, no masculino, e, no feminino, da 1ª declinação.
Eram quatro séries, correspondentes aos quatro pronomes pessoais:
a - meus, mea (ego, genitivo mei)
b - tuus, tua (tu, genitivo tui)
c - noster, nostra (nos, genitivo nostrum)
d - uester, uestra (uos, genitivo uestrum)
O pronome pessoal reflexivo de 3ª pessoa apresenta desinências causais paralelas às de tu (sui, sibi, se) e o possessivo reflexivo de 3ª pessoa era da estrutura dos demais (masc. suus, 2ª declinação; fem. sua, 1ª declinação).
O sistema de possessivos portugueses continua o padrão estabelecido em latim. O português refez os masculinos da 2ª e 3ª pessoa pelo modelo da 1ª: meu, teu, seu (+ - /s/ no plural); feminino minha, tua, sua (+ - /s/ no plural). No plural da 1ª e 2ª pessoa, nostru, vostru, o latim vulgar adotou formas novas, tiradas dos pronomes pessoais respectivos - nossu-, vossu-; daí, nosso, vosso – com as desinências –a e –s, de feminino e plural, respectivamente.
Como em latim, o possessivo português não é definidor do substantivo, daí o emprego do artigo para esse fim, mas no Brasil é usual a omissão do artigo. A oposição entre a indicação definida e a indefinida, na presença ou na ausência do artigo, só se manifesta quando o possessivo se reporta a um substantivo sujeito.
Também o possessivo português, como em latim, só tem função adjetiva.
1.3. Os demonstrativos
Havia no latim clássico, três pronomes demonstrativos, correspondentes às três pessoas gramáticas hic para a primeira, este para segunda e ille para a terceira.
No latim vulgar, observa-se certa confusão no uso desses pronomes. É freqüente encontrar-se empregado um em lugar do outro.
O pronome da 2ª pessoa iste substitui o da 1ª hic, que nos últimos tempos desaparece inteiramente. O pronome de identidade ipse, da 3ª pessoa, passa então a ocupar o lugar de iste.
Havia, em latim, a partícula ecce, que se combinava com algumas palavras, para pôr em relevo a idéia por elas expressa: eccum (ecce + hunc), eccilum (ecce + illum), eccistrum (ecce + istum). O composto eccum, pronunciado eccu, influenciado provavelmente por atque, o que melhor explica os pronomes arcaicos aqueste < accu + iste, aquesse < accu + isse por ipse e o atual aquele < accu + ille.
No singular, as formas portuguesas correspondem ao nominativo latino, no plural estabeleceu-se a desinência –s, de acordo com o padrão nominal.
O nominativo – acusativo neutro latino de iste, ipse, ille, a saber – istud, ipsum, illud, substituíram, em função substantiva e sem categoria de plural, para indicar “coisas”, isto é, seres vivos como inativos. Os reflexos portugueses de istud, ipsum, illud servem para assinalar o que não pertence ao que concebemos como do reino animal.
Na morfologia dos demonstrativos, no português atual, tem ainda a alternância /e/ para /e/, no feminino, e, no neutro, /e/ para /i/. Para o neutro, esto, que era forma normal no português arcaico, passou para isto.
Como pronomes anafóricos, os demonstrativos servem a um campo mostrativo centrado no falante. O sistema tripartido, fundamentado na oposição falante ¹ ouvinte, perde a rigor seu sentido. O que se cria então é a oposição entre o contexto do momento da comunicação e o falante. Assim temos: este, esse, aquele se reduz a – este /esse/, aquele.
A língua escrita no Brasil procura manter a distinção entre este e esse para referências dentro do contexto lingüístico. Mas a norma imanente da língua escrita é usar esse em oposição a aquele, para a comunicação do momento.
O sistema tripartido está se tornando inseguro, com a tendência a suprimir a discrepância entre o sistema tripartido e o bipartido.
2. Os Indefinidos
2.1. Os pronomes indefinidos
A língua latina possuía um sistema de formas vocabulares, que se opunham aos demonstrativos no sentido de assinalarem a ausência de uma indicação de posição. Também se opunham aos nomes, porque eram vazios de representação.
Por essa dupla oposição, serviam nas perguntas para designar o elemento desconhecido sobre o que se desejava de informação do ouvinte. Na gramática latina são chamados de “indefinidos-interrogativos”.
A forma básica era um radical Kw ( i / o ), de que provém no latim clássico, primário quis (mas., fem.), quid (neutro), do radical Kwi, no nominativo. Com essa base havia uma série numerosa de derivados: quisquis, quidam, quispiam, aliquis, quims etc. com uma distribuição de acordo com a necessidade do falante para efetuar o processo de comunicação.
No latim, o indefinido-interrogativo era aproveitado para subordinar uma oração a outra. O pronome passava a funcionar nas duas orações, ao mesmo tempo. Assim, desta maneira era preferida no nominativo a variante de radical Kwo (qui; masculino; quae, feminino; quod, neutro).
A unidade do conjunto era desfeita pela inclusão de uma série de adjetivos de tema em –o/u, como: unus - “um”; ullus – “qualquer um”; alter – “o outro, entre dois”; alius – “outro entre vários”. Morfologicamente, apresentavam no genitivo e dativo do singular as desinências pessoais dos demonstrativos (gen. - ius, dat. – i, para os 3 gêneros).
Assim, na língua portuguesa o sistema foi profundamente reformulado, havendo uma nítida separação entre os pronomes indefinidos e os interrogativos.
De uma maneira geral, do ponto de vista mórfico-semântico, o que encontramos nos pronomes indefinidos é uma função substantiva ou adjetiva, variável em gênero e número, e uma forma variável de função substantiva.
A criação do sistema se fez pela evolução fonética e reinterpretação e redistribuição de formas latinas com o radical Ku ( i/o ):
. alíquis e unus > algum;
. aliquem (acusativo de aliquins) > alguém;
. aliquod (do tema Kwo, em vez de aliquid, tema Kwi – neutro de aliquis) > algo.
Ao pronome algum corresponde uma série negativa:
. nenhum (lat. ne (c) + unu -); a , + s; ninguém (ne (c) + quem), nada).
. outro (+ a, +s), do acusativo de alter (alterum, alteram, alteros, alteras) ganhou uma forma invariável para pessoa – outrem , onde o sufixo – em é átono).
Inovação românica, decorrente de um empréstimo do latim vulgar ao grego, é o adjetivo cada, invariável, só aplicável no singular.
Outra inovação foi a locução qualquer, com um plural quaisquer, para marcar a diferença de escolha dentre uma série.
Cada é exclusivamente de função adjetiva. Para a função substantiva há uma locução com o indefinido um (+ a, + s ): cada um.
A descrição gramatical tradicional inclui os adjetivos de tema – o entre os indefinidos. Assim, muito, pouco e todo. Para os dois primeiros nada justifica esse critério, mas para o segundo, a gramática latina fazia a relação com lotus.
Assim, há uma separação em português entre as formas de indefinido e interrogativo. Apenas qual, que é fundamental interrogativo.
2.2. Os interrogativos.
As formas pronominais interrogativas, em português, provém do latim quis – quid, e de qualis, que é um composto na base do radical Kwo-.
A forma masculina – feminina na forma de acusativo quem ficou em português reservada ao gênero “pessoal”, que já foi mencionado nos indefinidos alguém, ninguém, outrem.
A forma neutra quid passou ao português sob a forma que e é do gênero neutro, para “coisas".
Qual, do acusativo qualem de qualis, tem a função de assinalar a indefinição dentro de um grupo limitado de seres e definido em seu conjunto. Singular qual; plural quales > quais.
Há assim, uma relação muito grande do português com o latim nos pronomes interrogativos.
2.3. O relativo
III. Conclusão
O individual e o social interpenetram-se. As palavras, pronunciadas só por uma pessoa, não sobreviveriam. As palavras só têm história porque a coletividade as repete.
A língua é eminentemente mutável no tempo e o seu movimento de mudança tem o caráter de uma evolução, isto é, um processo dinâmico, gradual e coerente.
A evolução é muito complexa. A história de uma língua não é um esquema pré-estabelecido. Não se pode partir do latim e chegar diretamente aos dias de hoje.
No latim estavam reunidas todas as condições de instabilidade lingüísticas. A experiência mostra que os povos invasores são levados a eliminar as particularidades locais de sua língua: é a conseqüência dos contatos que se verificam durante esses movimentos sociais. A unificação, como se compreende, escolhe as formas que são sentidas como m ais regulares: as anomalias são desfeitas, adaptando-se aos modelos.
A inovação é, pois, um fato individual, que pode, ou não se tornar coletivo. Quando isso acontece, temos um fato concreto, realizado.
Aí, entendemos que o uso e a evolução dos pronomes serviram não só para que as pessoas pudessem comunicar suas idéias e pensamentos da melhor forma, uma vez que o pronome mostra o ser no espaço, visto esse espaço em função do falante: eu, mim, me, este e assim por diante, mas também para designar elementos desconhecidos sobre o que se queira informar.
IV. Referências Bibliográficas
CÂMARA JR., Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis : Vozes.
_____. História e estrutura da língua portuguesa. Rio de Janeiro : Padrão, 1979.
____. Princípios de lingüística geral. Rio de Janeiro : Padrão, 1979.
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. Rio de Janeiro : Cortez, 1995.
COUTINHO, Ismael de Lima. Gramática histórica. Rio de Janeiro : Livro Técnico S/A, 1976.
SILVA NETO, Serafim da. História da língua portuguesa. Rio de Janeiro : Livros de Portugal, 1952.
WINTER, Enéia & SALLES, Paulo Eduardo Marcondes de (org). Metodologia da pesquisa científica. São Paulo : CEDAS.
A INFLUÊNCIA INDÍGENA NOS TOPÔNIMOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma
tem mil faces secretas sob a face neutra.
Carlos Drummond de Andrade
ABREVIATURAS
al. alameda.................................. av. avenida
b. bairro..................................... est. estrada
Jd. Jardim.................................... r. rua
tv. travessa.................................. var. variante(s)
INTRODUÇÃO
A influência da língua indígena, em especial o tupi, na formação do léxico da língua portuguesa falada no Brasil é muito expressiva. Pretende-se, então, neste trabalho, fazer o levantamento de alguns topônimos de procedência indígena existentes no Município de São Gonçalo (Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro), dando sua localização e seu significado.[1]
Os missionários jesuítas foram os grandes defensores do ensino do tupi e, no afã de catequizar os selvagens, contribuíram decisivamente para o conhecimento e a permanência do idioma. Da mesma forma, o advento das bandeiras fez com que tal língua tivesse considerável expansão:
Nas suas entradas pelo sertão brasileiro, estabelecendo a ligação entre o litoral e o interior, os bandeirantes, entre os quais havia ordinariamente condutores índios, faziam do abanheém o instrumento das suas comunicações diárias.
Deste modo é que se justifica a existência de tantos topônimos em regiões situadas fora da área ocupada pelos tupis.2
São Gonçalo, município com cerca de 889.828 habitantes e uma extensão territorial de 251 km2 3, também apresenta, nos nomes de suas ruas e bairros, as contribuições da língua indígena.
TOPÔNIMOS DE ORIGEM INDÍGENA
DE SÃO GONÇALO
A
Abaeté (av. – b. Antonina): Do tupi aba, homem, etê, por excelência: homem de valor. Var. Abaetê.
Acari (r. – b. Trindade): Do tupi acari, isto é, acará, cascudo, escamoso e i, pequeno. Peixe de água doce do Brasil.
Anaiá (est. – b. Tribobó): Do tupi: palmeira de fruto drupáceo, verde-amarelo.
Andira (r. Expedicionário Andiras Nogueira de Abreu – b. Porto do Rosa): Do taxonomia Andira, de origem tupi: gênero de plantas da família das leguminosas.
Araçatuba (r. – b. Trindade): Do tupi araçá-tyba, o sítio dos araçás, onde há araçás em abundância.
Araguaia (r. – b. Boa Vista): Do tupi ara-guá-y, rio do vale dos papagaios; ou ara, dia, tempo e guaia, caranguejo: tempo, época, estação de apanhar caranguejo.
Arara (r. Araras – b. Trindade): Do tupi: ave.
Araribóia (r. – b. Porto Novo): Do tupi araüba, de ara, tempo, e aüba, mau, e mboü, cobra de mau tempo, cobra de tempestade, serpente misteriosa que no fundo das águas respondia com um eco ao ribombo do trovão.
Araruama (r. – b. Trindade) : Do tupi arara-uama, comedouro ou bebedouro das araras.
Araxá (r. – b. Trindade): Do tupi: planalto em forma de tabuleiro.
Ari (r. Ari de Azevedo – b. Jardim Catarina): Do tupi.
B
Baependi (r. – b. Trindade): Do tupi: clareira na mata, atalho, picada que dá passagem.
Baturité (r. – b. Trindade): Do tupi ybytyra-etê, alteração de ubutur-etê, montanha verdadeira, a serra por excelência.
Birigui (r. – b. Boa Vista): Do tupi: mosca pequena.
Boaçu (b.): Do tupi mboy-açú, serpente, cobra grande; Rio de Janeiro.
C
Caçapava (r. – b. Trindade) : Do tupi caá-çapaba, clareira da mata, aberta, travessia ou vereda na mata.
Caetés (r. – b. Jardim Catarina): No singular Caeté. Do tupi caá-êtê, mata real ou verdadeira, mato virgem.
Caiçara (tv. Jardim Caiçara – b. Barro Vermelho): Do tupi: caa, folha, mato ou folhagem e içara, tronco ou haste: tapume, paliçada, cercado, trincheira.
Cambuci (r. – b. Trindade): Do tupi: cambú-chi, vaso de água, pote, cântaro, tina; var.: camuci, camucim, camutim, camoti, caá-mboci, fruto feito de duas partes juntas.
Cambuquira (r. – b. Trindade): Do tupi: grelo de erva, isto é, broto de erva.
Canindé (r. – b. Trindade): Do tupi kani’ne: anegrado, retinto, tisnado, escuro; nome de uma espécie de arara.
Capivari (r. – b. Trindade): Do tupi capiuar-y, rio das capivaras.
Caramuru (r. – b. Galo Branco): Do tupi, moréia.
Carioca (al. – b. Jóquei Clube): Do tupi, casa do branco.
Cariri (r. – B. Coelho): Do tupi kiriri, adjetivo, taciturno, silencioso, calado; lugar descampado, sertão, lugar silencioso.
Caruaru (r. – b. Coelho): Do tupi karna’ra-ü, a aguada das caruaras.
Cataguases (r. – b. Trindade): Do tupi caatã-gua, o morador ou habitante dos cerrados.
Cavaru (r. – b. Porto da Pedra): O modo do tupi da palavra cavalo.
Corumbá (r. – b. Trindade): Do tupi curú-mbá, o banco de cascalho. Var. corumbaba.
Cuiabá (al. – b. Rio do Ouro): Do tupi: lugar onde há cuias.
Curi (r. Aída Curi – b. Raul Veiga): Do tupi: a argila vermelha.
G
Guanabara (r. – b. Gradim ): Do tupi: baía tão vasta que parece mar.
Guaporé (r. – Santa Isabel): Do tupi wa, campo, e po’ré, catarata, cachoeira no campo, no campestre.
Guaraci (r. – b. Estrela do Norte) : Do tupi wa’ra sü, a mãe dos viventes, o criador, o sol, ou então, ko ara sü , a mãe deste dia, a mãe do dia.
Guarani (r. Tenente Guarani – b. Estrela do Norte): De origem obscura, mas certamente de idioma indígena da América do Sul. Segundo Baptista Caetano deriva do tupi guarini, guerrear.
Guarapari (r. – b. Trindade): Do tupi.
Guaxindiba (b.): Do tupi gwaxi’ndiba: vassouras em abundância.
Iara (r. – b. Laranjal): Do tupi: senhor, senhora.
Ibicuí (tv. – b. Colubandê) : Do tupi i’bi, terra, e ku’i, farinha, pó: pó de terra, areia, praia.
Ibirapitanga (r. – b. Guaxindiba): Do tupi ibirá, pau, e pitãga, vermelho.
Ibituruna (r. – b. Monjolo): Do tupi ibi’tu, nuvem, e una, preta; ou ibitu’roi, vento frio.
Iguaba (r. – b. Trindade ):Do tupi ü, água, e wab, particípio de u , beber, aquilo em que se bebe, lugar onde se bebe, bebedouro d’água.
Iguaçu (al. – b. Rio do Ouro ): Do tupi-guarani ü, água e wa’su, grande: rio caudaloso.
Imbé (r. – b. Guaxindiba): Do tupi: a planta rasteira; trepadeira.
Ipê (r. – b. Arsenal) : Do tupi y-pê, árvore cascuda.
Ipê (r. – b. Arsenal): Do tupi y-pê, árvore cascuda.
Ipiranga (r. – b. Gradim): Do tupi ü, água, rio, e pi’ranga, vermelha.
Iracema (tv. – b. Paraíso): Do tupi irá, mel e cema, porção, abundância: fluxo, quantidade de mel que escorre.
Itaberaba (r. – b. Barracão): Do tupi ita, pedra e beraba, brilhante.
Itabira (r. – b. Guaxindiba/Monjolo): Do tupi ita, pedra, e bira, levantada, erguida, empinada, alta.
Itacambira (r. – b. Barracão): Do tupi ita akam’bira, forcado de ferro, compasso, tenaz.
Itacava (r. – b. Barracão): Do tupi.
Itacoatiara (r. – b. Guaxindiba/Monjolo): Do tupi ita, pedra, e kwati’ara, pintada, escrita, gravada.
Itacolomi (r. – b. Jardim Catarina): Do tupi ita, pedra e kulu’mi, criança, menino, o menino da pedra, o filho da pedra, a pedra e seu filho.
Itacuruçá (r. – b. Monjolo): Do tupi ita, pedra e kuru’sa, forma que os tupis deram à palavra portuguesa cruz: lugar da cruz de pedra.
Itaguaí (r. - b. Trindade): Do tupi água (hi, hig, ig) do barro vermelho ou da argila vermelha.
Itaípe (r. – b. Guaxindiba): Do tupi ita, pedra; i, rio, água; pe, caminho: água que corre entre pedras.
Itaipu (r. – b. Laranjal): Do tupi ita, pedra; ypú, fonte, manancial: água que nasce da pedra.
Itajaí (r. – b. Galo Branco): Do tupi itajá, que tanto pode significar uma erva como também uma espécie de formiga; hi, hig, i, ig, rio: rio das formigas ou da erva tajá.
Itajubá (r. – b. Trindade): Do tupi ita, pedra; jubá, amarela, de ouro.
Itajuru (r. – b. Vista Alegre) Do tupi ita, pedra, jurú (yurú), boca: boca de pedra ou caverna.
Itamarati (av. – Guaxindiba/Monjolo): Do tupi ita, pedra, marati, branca: rio das pedras brancas.
Itambé (r. – b. Monjolo): Do tupi ita, pedra e aymbé, afiada, pontiaguda, cortante.
Itambi (r. – b. Laranjal) Do tupi ita, pedra, e mbi, alçada, o penedo em pé; ou ü, água e ã’ bü, muco, água de muco; ou ainda ita, pedra, e ã’bi, muco, rochedos mucosos.
Itamirim (r. – b. Barracão) : Do tupi ita, pedra, e mirim, pequena.
Itanguá (r. – b. Barracão): Do tupi ytã-guá, a baixa das conchas.
Itanhandu (r. – b. Guaxindiba): Do tupi ita, pedra, e nhan’du, nhandu, nhandu de pedra.
Itaoca (est. - b. Itaoca): Do tupi ita, pedra e oca, casa : casa de pedra.
Itaocara (r. - b. Trindade): Do tupi ita, pedra e ocara onde há oca, casa e ara lugar: lugar da casa de pedra.
Itapagipe (r. – b. Vista Alegre): Do tupi, segundo Von Martius é alteração de utapugipe, rio que dá vau, que dá caminho.
Itaparica (r. - b. Guaxindiba): Do tupi ita, pedra; pari, cercado: lugar cercado de pedras.
Itapemirim (r. – b. Monjolo): Do tupi ita’pé, laje, e mi’ri, pequena.
Itaperuna (r. – b. Vista Alegre): Do tupi ita, pedra; pe, caminho ou passagem e una, preta.
Itapetininga (r. - b. Guaxindiba): Do tupi itape, laje; tininga, seca.
Itapeva (r. – b. Guaxindiba/Monjolo): Do tupi ita, pedra, e pewa, chata.
Itaporanga (r. – b. Guaxindiba) : Do tupi ita, pedra; porang, bela, bonita.
Itapuca (r. - b. Monjolo) : Do tupi ita, pedra e puca, arrebentada, amassada.
Itararé (r. - b. Boa Vista): Do tupi ita, pedra e raré, escavada, onde há um buraco.
Itatiaia (r. – b. Laranjal): Do tupi ita, pedra, tiai, gancho, croque, dente, o penhasco cheio de pontas, a crista eriçada.
Itaú (r. - b. Guaxindiba): Do tupi ita, pedra e u, preta: pedra preta, isto é, o ferro.
Itaúna (b.): Do tupi ita, pedra e una, preta : pedra preta.
Itaverava (r. – b. Monjolo) : Do tupi ita, pedra, verava, corruptela de beraba, luzente.
Itororó (r. - b. Jardim Catarina): Do tupi ita, pedra e roró, que faz barulho, ou então: i, água, rio, e tororó, sussurrante.
Itu (r. - b. Monjolo) : Do tupi i, água, rio; tu, fazer barulho: água rumorejante.
Ituverava (r. – b. Monjolo): Do tupi ütu, cascata, cachoeira, salto, e beraba, brilhante, luzente, resplandecente.
J
Jabaquara (r. – b. Itaúna): Do tupi yabá-quara: refúgio ou esconderijo dos fujões, vulgo, quilombo.
Jacarandá (r. – b. Arsenal): Do tupi y-acã-ratã: o que tem o miolo duro, o cerne duro.
Jaceguai (r. – Almirante Jaceguai – b. Laranjal): Do tupi yasêwa ü, rio da baixa das melancias, ou yasê wai , a cabeça edule, a melancia.
Jaci (r. Jaci de Menezes – b. Barro Vermelho): Do tupi ya-cy, a mãe dos frutos; ou do tupi ya’sü, lua.
Jaguaré (r. – b. Monjolo): Do tupi: sabe a onça, ou que tem cheiro de onça, a catinga da onça.
Jaguari (r. – b. Laranjal): Do tupi jaguar, onça e i, ig, água, rio: rio da onça.
Jaraguá (r. – b. Trindade): Do tupi yara, senhor e guá, campo: senhor do campo.
Jaú (r. – b. Trindade): Do tupi-guarani ya-ú, o comedor, o comilão, o nome de um peixe fluvial. Do tupi ia’u: bagres d’água doce.
Jequitibá (r. – b. Arsenal): Do tupi: yiki, covo, t-ybá, fruto: árvore de covos, porque os frutos têm a forma de covo.
Jequitinhonha (r. – b. Itaúna): Pode ser vocábulo de origem tupi: yi’ki tünone, o covo mergulhado ou assentado n’água.
Joá (r. – b. Almerinda): O mesmo que juá, do tupi yu, espinho.
Jurema (tv. – b. Porto Novo): Do tupi yú, espinhoso e r-ema, que vasa.
Juruá (r. Rio Juruá – b. Rocha): Do tupi yuru a, a boca aberta ou ampla, a embocadura larga.
L
Lambari (r. – b. Trindade): Do tupi : peixe pequeno de água doce. Var. de alambari.
M
Macaé (r. – b. Trindade): Do tupi ma’ka, abreviação de makaba, macaba, e ê, doce; ou amaka ae, rede de dormir dele; ou ainda mikié, rio dos bagres e céu enxuto.
Macapá (al. – b. Rio do Ouro): Do tupi: forma apocopada de maka’paba, a estância das macabas, o palmar das macabas.
Maceió (al. – b. Rio do Ouro): Do tupi ma por mbaé, coisa, e sai, estendida, dilatada: o espraiado, extenso, ou ma-sai-ó, o que se estende encobrindo ou tapando.
Mangaratiba (r. – b. Trindade): Do tupi mãgara, mangará, tüba, sufixo coletivo, o sítio das mangarás.
Mantiqueira (r. – b. Engenho Pequeno): Do tupi amãtikir, a chuva goteja, ou mbaétikir, coisa que verte.
Marabá (r. – b. Trindade): Do tupi mair-abá, isto é, o francês, o estrangeiro.
Marajó (tv. – b. Lindo Parque): Do tupi mba’ra yó, tirado, arrancado do mar.
Marambaia (b.): Do tupi marã-bai, cerco do mar.
Maricá (av. – b. Galo Branco): Do tupi mari, cássia; cá, espinho, ponta aguçada.
Mauá (r. – b. Porto Velho): Do tupi ma-u’ã : a coisa elevada; alusão à terra erguida entre baixas alagadiças.
Miracema (r. – b. Alcântara): Talvez do tupi müra, povo, gente, ou ümira, pau, e sema, gerúndio de sem, sair, gente que nasce ou pau que brota.
Mojica (r. Frei Mojica – b. Boaçu): Do tupi.
Mossoró (r. – b. Boa Vista): Do tupi mbo, fazer, e sorok, romper, rasgão, ruptura.
Mucuri (r. - b. Jd. Catarina): Do tupi mucura, gambá, e y, água, rio.
N
Niterói (r. – b. Alcântara): De origem tupi, um tanto duvidosa: água abrigada em seio.
P
Paraíba (tv. – b. Gradim): Do tupi: variegado e o tupi : árvore; do tupi : rio imprestável.
Paraná (al. – b. Rio do Ouro) : Do tupi: semelhante ao mar.
Paranaguá (r. – b. Trindade): Do tupi Paraná e guá, baía.
Parati (r. – b. Trindade): Do tupi: peixe branco.
Peri (r. – b. Lagoinha): Do tupi, junco.
Piabas (est. – b. Várzea das Moças): Do tupi: no singular, piaba , pele manchada.
Pindamonhangaba (r. – Portão do Rosa): Do tupi pinda monhangaba, fábrica de anzóis, ou pescaria a anzol.
Piracanjuba (r. – b. Jd. Catarina): Do tupi: pira, peixe de pele, kang, osso, e yuba, amarelo.
Piracicaba (r. – b. Trindade): Do tupi pira, peixe, cycaba, colheita.
Piraí (r. – b. Trindade): Do tupi: designação indígena de peixes de pequeno porte.
Piraju (r. – b. Boa Vista): Do tupi pira, peixe e yu, forma apocopada de yuba, amarelo, peixe amarelo, o dourado.
Pita (tv. Alberto Pita – b. Sete Pontes): Do quíchua pita: fio fino.
Pitangas (est. – b. Monjolo): Do tupi: no singular, pitanga , vermelho.
Pororoca (r. – b. Itaoca): Do tupi: estrondar.
S
Sabará (r. – b. Itaoca): Do tupi ita, pedra, beraba, luzente, pedra luzente, cristal, alterado para tabaraba, tabarab, Tabará (forma antiga), finalmente Sabará.
Sapucaia (est. – b. Itaúna): Do tupi: fruto que faz saltar o olho.
Sepetiba (r. Visconde de Sepetiba – b. Mutondo): Do tupi sapê, sapê, e sufixo coletivo tüba, sapezal.
Sergipe (r. – b. Brasilândia): Do tupi siri ü pe: no rio dos siris.
Sorocaba (r. – b. Trindade): Do tupi sorokab, lugar de se romper.
T
Tapuia (r. Tapuias – b. Jardim Catarina): De origem tupi, mas de etimologia mal explicada. O que se sabe ao certo é que da denominação se serviam, como alcunha injuriosa, tanto os nossos tupinambás como os guaranis do Paraguai. Quanto à significação desta alcunha, pode ser: bárbaro, selvagem; contrário, inimigo.
Taubaté (r. – b. Trindade ): Do tupi taba eté, aldeia verdadeira, considerável.
Tietê (r. – b. Trindade): Do tupi, tié (pássaro) verdadeiro.
Tupi (r. – b. Raul Veiga): Do tupi: tu-upi, o pai supremo, o primitivo, o progenitor.
Tupinambá (r. – b. Porto Novo): Do tupi: descendente dos tupis.
Turiaçu (r. – b. Laranjal): Do tupi. Pode ser torü wasu, a turiúva grande, ou torä wasu, o facho grande, a fogueira, o incêndio.
U
Ubá (r. – b. Trindade): Do tupi: árvore.
Ubirajara (r. – b. Laranjal): Do tupi: senhor da terra.
Uruguai (al. – b. Tenente Jardim): Do guarani: rio de caracóis.
CONCLUSÃO
Depois de tão longo convívio com a língua portuguesa, as línguas nativas dos nossos índios deixaram importante influência na fala brasileira e, principalmente, no vocabulário – nomes próprios de pessoas e de lugares.
Apesar da constante tentativa de extermínio dos povos indígenas através da destruição da sua cultura e língua, esta resiste bravamente e continua viva nos topônimos das diversas regiões do país.
A contribuição indígena à cultura brasileira deve ser sempre estudada e valorizada, fazendo-se conhecida às gerações atuais.
BIBLIOGRAFIA
ASSIS, Cecy Fernandes. Dicionário guarani-português. São Paulo : O Autor, 2000.
BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico-prosódico da língua portuguesa. São Paulo : Saraiva, 1963.
BUENO, Francisco da Silveira. Vocabulário tupi-guarani português. 3 ed. São Paulo : Brasilivros, 1984.
COUTINHO, Ismael de Lima. Pontos de gramática histórica. 7 ed. Rio de Janeiro : Ao Livro Técnico, 1976.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2 ed. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1986.
GUIA POSTAL BRASILEIRO. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 8 ed. Fotomática, 1992.
MACHADO, José Pedro. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 2 ed. São Paulo : Confluência, 1967.
NASCENTES, Antenor. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de Janeiro : F. Alves, 1952.
SAMPAIO, Theodoro. O tupi na geografia nacional. 3 ed. Bahia : Secção Graphica da Escola de Aprendizes Artifices, 1928.
VIANA, Eliane Rodrigues da Costa. A influência indígena na língua portuguesa do Brasil. Rio de Janeiro : CiFEFiL, 2000.
nos Falares do Brasil
Jaline Pinto da Silva
I - INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo promover uma reflexão acerca das contribuições dos falares africanos para a história do Português do Brasil. Para tanto, faz-se necessário citar informações, ainda que sintéticas, a respeito dos países que compõem os territórios de fala portuguesa. Sabendo-se, no entanto, que a proposta desta pesquisa delimita-se às influências que as comunidades de origem africana exerceram no Brasil.
Situando geograficamente os países que possuem como língua oficial o português, tem-se hoje: Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe, Ilhas de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Macau, Goa e uma parte de Timor, sendo o português, nestes últimos territórios asiáticos, bastante ameaçado pela expansão do inglês, dentre outros fatores políticos e econômicos.
Vale ressaltar que a investigação do presente trabalho, deu-se a priori através de pesquisa de fatores sociais. Já que estes, além de variações dos enunciados lingüísticos, da existência de dialetos, das situações de contato de línguas encerram em si conceitos que têm implicações na definição de uma língua, sendo necessário envolvê-los par se dar conta da realidade a que poderá corresponder o rótulo de língua portuguesa.
As considerações finais da pesquisa trazem uma pequena, porém bastante simbólica mostra dos vocábulos que são utilizados hoje no Brasil e que têm suas origens nos povos africanos.
II - TERRITÓRIOS DE LÍNGUA PORTUGUESA:
UMA SINTÉTICA PERSPECTIVA HISTÓRICA
Para se compreender as especificidades que constituem o português brasileiro, principalmente no que se diz respeito às influências africanas, faz-se necessário relatar alguns fatos de ordem social e política do início da expansão do português para outros territórios, a fim de que estes possam esclarecer dados sobre as diferenças apresentadas no Brasil.
Para tal objetivo supracitado, deve-se começar por um fator social, historicamente limitado, que terminou em situações de contato de línguas, envolvendo uma língua européia, o português, e línguas extra-européias, faladas na África, na América e na Ásia. O fator é a colonização basco-portuguesa que sucedeu a expansão começada em 400, e que, fruto do equilíbrio ou do desequilíbrio demográfico entre os falantes envolvidos no contato, motivou diferentes resultados sociolingüísticos. Onde o colonizador era um aventureiro isolado e o território inicialmente deserto, servindo de entreposto no negócio da escravatura (caso de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe), as condições foram de emergência de crioulos etnicamente desenraizados, integrando grupos africanos mistos. As populações de escravos viam-se obrigadas a renunciar às suas línguas maternas.
Essa é a situação típica para o nascimento de uma língua auxiliar que reaparece sistematicamente em cenários de entreposto e de plantação e que tem o nome de pitim. Apresentando uma gramática simplificada e um vocabulário escasso e instável, o pitim sujeita-se, onde quer que se converta em língua materna de novas gerações, a um processo de complexificação que resulta no nascimento de uma nova língua, o criollo, com base no léxico da língua do colonizador. Para os falantes do criollo de base portuguesa, a língua portuguesa vai funcionar como segunda língua, apta a desempenhar as funções de língua oficial à data da independência.
A convivência com a língua portuguesa na Guiné, Angola e Moçambique foi assegurada pela presença dos colonos, durante os séculos XIX e XX, que foram os responsáveis pela imposição de um modelo de prestígio que os africanos precisariam dominar sempre que ambicionassem ascensão social ou caso se impusesse uma situação de contato interétnico. Nesses territórios o português só pôde funcionar como língua materna para as populações africanas em áreas de intensa migração interna, como Ruanda. A independência, no entanto, não significou simultaneamente a despedida da língua materna da classe administrativa.
Também em vários pontos da Ásia se vieram a desenvolver criollos de base portuguesa, falados na Índia, Ceilão, Macau, Malásia e Timor, que se extinguiram progressivamente. Onde a administração portuguesa se manteve até o século XX (Goa, Damão e Diu, Macau e Timor), ocorreu a descriolização. As estruturas gramaticais e lexicais foram se aproximando progressivamente do modelo português-europeu e apenas deixaram vestígios nas variedades dos sotaques do português hoje falado por uma minoria de indianos, macaienses e timorenses.
Presença portuguesa duradoura ou vontade de afirmação da individualidade comunitária, esses foram os dois fatores que contribuíram para a permanência de vestígios lingüísticos. A situação oriental é muito diversa da língua portuguesa na África, porque esta última foi alvo, em virtude de diferentes mecanismos de descolorização, de uma intervenção autoritária. A língua portuguesa começou, a partir de 1975, a integrar um processo de política lingüística, ao ser eleita em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné, Angola e Moçambique como língua oficial.
As línguas só são alvo de decisões que implicam atos de poder, quando são faladas em comunidades bilíngües ou multilíngües. No reinado de D. Diniz, há 700 anos, Portugal vivia uma continuação de bilingüismo cultural, em que a língua de cultura, o latim, divergia da língua materna da população. D. Diniz decretou que se passasse a redigir em português os documentos de chancelaria real. Este foi o primeiro gesto da oficialização da língua portuguesa em território europeu.
O segundo ato de poder que envolveu a língua portuguesa ocorreu no século XVIII, quando o marquês de Pombal, perante o multilingüismo presente no Brasil e à crescente importância das línguas gerais como línguas de comunicação entre índios, africanos e mesmo europeus, decretou a proibição, atribuindo assim ao português, pela segunda vez na história, o estatuto de língua oficial.
Esses dois antecedentes deixam bem claro que os atos de autoridade só incidem no fato social da língua, quando nos contornos de um Estado, caiba algo mais do que a implantação de uma com unidade unilíngüe. Os resultados vão divergir em razão da natureza sociolingüística da língua imposta. A orientação política que passa pela institucionalização autoritária de uma língua é um instrumento que tanto pode servir à causa nacionalista como combatê-la. Impor a oficialidade da língua da comunidade majoritária, como faz D. Diniz, reforça a individualidade política dessa comunidade, pois passará a haver uma coincidência entre poder e cultura. Ligar a oficialidade de línguas faladas no interior de um Estado, instituindo apenas a língua da classe dominante, forma federações como a brasileira, com maiores ou menores problemas de homogeneidade lingüística, conforme a individualidade cultural dos grupos subjugados.
Pode-se dizer que se mantém a hegemonia de uma norma culta só enquanto se mantiverem as condições de estabilidade social. Quando há Estados onde prevalece o bilingüismo, ou o multilingüismo, como é o caso dos africanos, se decreta que prevaleça sobre as línguas maternas das diferentes etnias uma segunda língua, falada por um grupo prestigiado, pertencente a uma cultura estranha, que se desenvolve até em outro continente, mas vai-se assistir ao ecumenismo. Entretanto, o ecumenismo lingüístico não se impõe naturalmente, nem basta investir em campanhas de alfabetização ou numa integração equilibrada da população heterogênea. É preciso que resulte constantemente reforçado o prestígio da língua oficial. Não existe propriamente uma comunidade de língua portuguesa, existirão comunidades, mais do que Estados independentes. Assim sendo, vê-se que a língua portuguesa acompanhou o Império na sua expansão e também o acompanhou no seu declínio, fato que leva a uma possível definição de língua portuguesa como antepassado lingüístico de uma família de línguas a que pertencem o português europeu, o português do Brasil, os crioulos de base portuguesa e uma multiplicidade de variedades africanas e asiáticas.
III - DIFERENTES REFERENCIAIS TEÓRICOS
ACERCA DA INFLUÊNCIA AFRICANA
NA ESPECIFICIDADE DO PORTUGUÊS BRASILEIRO
Em 1980, o lexicógrafo, americanista e indianista, Macedo Soares, afirmou em um de seus trabalhos sobre a etimologia de certos termos de origem africana:
Um estudo completo dessas vozes d’África seria trabalho, de evidente utilidade, para se conhecer não só a influência que exerceram sobre a nossa sociedade os elementos negros..., mas também a direção que vai seguindo a língua portuguesa falada no Brasil em comparação com a falada na metrópole. (1943, p. 72)
Os primeiros estudiosos do século passado consideraram que a influência dessas línguas africanas e também indígenas serem responsáveis pela especificidade do português no Brasil. Assim, Renato Mendonça (1933) e Jacques Raimundo (1933) atribuíam à influência das línguas africanas a motivação de muitas características que distinguem o português brasileiro do europeu.
Contrapondo-se a esses autores, Serafim da Silva Neto (1986) embora admitido a formação de crioulos e semicrioulos decorrentes do aprendizado imperfeito do português por falantes africanos, nega a influência destes na constituição do português no Brasil. A presença africana teria apenas acelerado as tendências latentes na língua portuguesa.
A concepção teórica em que se baseia o raciocínio supracitado defende que as línguas possuem uma natureza histórica que oriente o seu desenvolvimento independente do contexto em que evoluem. Tal posição é ratificada por Mattoso Câmara (1972) que de acordo com sua opção estruturalista considera que a influência das línguas africanas na constituição do português brasileiro estar resumida à aceleração de tendências prefiguradas no sistema lingüístico do português.
Depois de um longo silêncio sobre esta questão, o debate sobre a influência das línguas africanas no Português do Brasil foi retomado recentemente, nos autores estrangeiros Guy (1981, 1989) e Holm (1987, 1988). Aparados por um conjunto de dados sócio-históricos e lingüísticos, esses autores defendem a hipótese da crioulização prévia do português brasileiro. Seus argumentos baseiam-se na constatação de que a convivência e o contato lingüístico com uma grande população africana, por mais de três séculos, conduzem fatalmente a uma história influenciada pela crioulização.
Animado pela perspectiva delineada pelos autores citados, mas partindo de bases empíricas diversas, Baxter (1992) empreendeu uma pesquisa junto a uma comunidade afro-brasileira de descendentes de escravos, próxima a Helvécia, no sul da Bahia.
Num estudo apresentado no Colóquio Internacional sobre Crioulos de Base Lexical Portuguesa, realizado em Lisboa, em 1992, Baxter destacou naquele dialeto de Helvécia os traços morfossintáticos que não se encontram na maioria dos dialetos rurais: uso de formas da terceira pessoa do singular do presente do indicativo para retratar estados e ações pontuais e contínuas que se situam no passado; uso variável de formas da terceira pessoa do singular do presente do indicativo em contextos que normalmente se usam formas do infinitivo; marcação variável da primeira pessoa do singular; dupla negação, variação de concordância de número e gênero do SN; orações relativas não introduzidas por pronome; presença variável do artigo definido em SN de referência definida; uso variável de formas no subjuntivo; ausência de formas sintéticas de futuro. Desse estudo concluiu-se que o dialeto de Helvécia apresenta traços sugestivos de processo irregular de aquisição e transmissão de linguagem do tipo que caracteriza as línguas crioulas. Assinala também que o sistema verbal encontrado nos dialetos rurais do português do Brasil pode ser derivado de dialetos como os de Helvécia, configurando assim um processo de descriolização.
A partir dessas pesquisas, passou Baxter admitir então, que a crioulização e a atual descriolização é um fato que pode ser ainda observado em algumas comunidades que se constituem majoritariamente de negros e que se mantêm na zona rural, isoladas de um contato mais intenso com os centros urbanos.
Observando de forma sintética os diferentes referenciais teóricos apresentados no presente capítulo, pode-se dizer que o estudo lingüístico das comunidades afro-brasileiras rurais é uma contribuição necessária para os estudos dialetológicos do Brasil para o levantamento das variedades do português brasileiro e também para o conhecimento da cultura da população brasileira de origem africana, já que esse aspecto vem sendo marginalizado ao longo do nosso processo civilizatório.
IV - LÍNGUAS AFRICANAS NO BRASIL
Sabe-se, evidentemente, que as línguas indígenas sempre foram faladas no Brasil, mas quanto a línguas africanas, pouco se sabe. Faltam documentos lingüísticos do tempo da escravidão e os papéis oficiais relativos ao tráfico que poderiam dar uma pista em direção aos seus falantes, foram destruídos por ordem governamental em 1891, três anos após a abolição da escravatura no país, com o objetivo não confessado de evitar o pagamento, pelo Estado, de indenização aos senhores de escravos. Esse tipo de dificuldade porém, não pode servir de motivo para afastar os pesquisadores, já que se calcula terem sido transplantados pelo tráfico para o Brasil mais de cinco milhões de africanos que trouxeram consigo suas culturas e línguas.
Partindo das investigações das manifestações folclóricas e dos falares africanos das comunidades de religião afro-brasileira, descobriu-se que os bantos foram trazidos em levas numerosas e sucessivas para o desbravamento e ocupação de terras desde o século XVI; a princípio oriundos do antigo Reino do Congo, depois de Luanda e Benguela, na costa sul de Angola. Esse dado histórico confirma as razões da predominância no português do Brasil de aportes provenientes das três línguas majoritárias e litorâneas daquela região, o quicongo, o quimbundo e umbundo. Essa última mais evidente em Minas Gerais e São Paulo do que na Bahia.
Quanto às línguas Kwa, faladas no oeste africano, as do grupo ewe, principalmente o fon ou daomeano e que foram registradas em Vila Rica, atual Ouro Preto, nas Minas Gerais do século XVIII, revelaram-se anteriores a iorubá. Essa mais do que as outras concentrada nos aspectos religiosos da cultura e formando poucos derivados portugueses a partir de uma mesma raiz africana, o que já denuncia uma importação relativamente mais recente no Brasil.
Na maioria dos casos estudados, verificou-se que ocorria uma adaptação morfológica mais do que uma evolução fonética das palavras importadas, diante das semelhanças casuais, mas notáveis do sistema lingüístico das línguas banto e dwa identificadas com o sistema de português brasileiro. Entre elas:
1) 7 vogais (V) orais, reconstruídas no protobanto e próprias do iorubá e do fon que também conhecem as vogais nasais correspondentes.
2) A estrutura silábica ((C)V), com exceção da nasal silábica (N) para as línguas africanas, a vogal (V) é sempre centro de sílaba, estabelecendo a fórmula (CVCV) como representante da estrutura ideal.
Tomando-se de uma parte, uma estrutura silábica A, própria ao banto e ao iorubá {(N,(C)V}, e de outra parte, uma estrutura silábica B, própria ao português padrão, ou seja, {(C)C)V(C)}, observar-se, para as palavras africanas uma adaptação do sistema A em sua integração progressiva no sistema B, como nos exemplos: nkisi’ inquice, ou seja, N à VN, ndende à dendê, ou seja, N à Æ.
Constata-se igualmente, para palavras portuguesas, uma adaptação do sistema silábico B em um sistema C sob a influência do sistema A, um fenômeno comum na linguagem popular e também generalizado em alguns casos do falar mais educado do português padrão do Brasil. Em outros termos {(C)C)V(C)} à {(C)V} sob a influência de {N,(C)V} a exemplo, entre outros, de negra à *nega, advogado à *adivogado e da vocalização da lateral velar /l/ ou queda do /r/ em posição final, como na pronúncia de Brasil - /brasiu/ ou dos infinitivos dos modos verbais, falar(r), dizer(r).
Assim, pode-se dizer que o português do Brasil, naquilo em que ele se afastou, na fonologia, do português de Portugal é, antes de tudo, o resultado de um enfrentamento de duas forças dinamicamente opostas, mas complementares. De um lado, um movimento explícito dos sistemas fônicos africanos em direção ao português, e, em sentido inverso, do português em direção aos sistemas fônicos africanos, sobre uma matriz indígena (Ind) preexistente no Brasil. Conseqüentemente o português de Portugal arcaico e regional, foi ele próprio africanizado, de certa forma, pelo fato de uma longa convivência. A complacência ou resistência em face dessas influências mútuas é uma questão de ordem sócio-cultural, os graus de mestiçagem lingüística correspondem, mas não de maneira absoluta, aos de mestiçagem biológica que ainda se processam no país.
Levando-se em consideração o número relativo de ocorrências do vocabulário de base africana que é usualmente empregado por determinadas camadas da sociedade ou pela comunidade como um todo e corrente no português do Brasil, no caso específico dos falares baianos, que talvez possa servir de modelos para os outros, foram identificados cinco níveis sócio-culturais de linguagem:
- Nível 1 - a linguagem litúrgica dos candomblés, um repertório baseado em sistemas lexicais de diferentes línguas africanas que foram faladas no Brasil e, pela sua própria natureza, de aspecto conservador e arcaizante.
- Nível 2 - a linguagem de comunicação usual do povo-de-santo (membros do candomblé), no contexto inter e intragrupal.
- Nível 3 - a linguagem popular da Bahia, a linguagem das camadas sociais de baixa renda, onde se registra um grande número de analfabetos, de elementos negros e mestiços e de seguidores dos candomblés.
- Nível 4 - a linguagem mais educada, de uso regional na Bahia.
- Nível 5 - a linguagem do português do Brasil em geral.
Assim, podemos configurar o perfil do português do Brasil a partir da seguinte hipótese:
—————————————< PB >————————————
LA à ß PO
|
Crioulos desaparecidos |
N1 |
N2 |
N3 |
N4 |
N5 |
————————————< IND >——— —————————
Evidentemente que para ultrapassar o estágio atual do conhecimento sobre o assunto, é necessário, antes de tudo, precisar quais as línguas africanas que foram faladas no Brasil, o que não é o objetivo do presente trabalho. Sabe-se da deficiência da informação histórica e da escassez de documentos lingüísticos do tempo da escravidão. No entanto, tendo em vista que, se a língua relata mais do que reflete a realidade, a língua nativa de um povo é fator de resistência e de continuidade cultural na opressão. Sendo assim, o estudo das evidências lingüísticas encontradas no vocabulário de base africana que foi tomado pelos falares regionais brasileiros, poderá revelar subsídios valiosos não só para a historiografia da língua portuguesa no Brasil, como também das próprias línguas negro-africanas.
V – CONTRIBUIÇÕES AFRICANAS NO VOCÁBULO DO PORTUGUÊS DO BRASIL
Este último capítulo pretende demonstrar algumas contribuições dos africanos no vocabulário do português do Brasil, assinalando desta forma, a inegável e forte influência dos falares crioulos em nossa língua.
- Banana: o mais popular dos vocábulos africanos no Brasil. J. M. Dalziel (The Useful Plants of West Tropical Africa, Londres, 1937) crê banana originar-se nos idiomas do oeste africano; a bana, plural de e bana, do timé; bana, plural mbana, do sherbro. Timé fala-se no Estado de Samori, costa do Marfim, compreendendo também mandingas e bambaras.
- Cafuné: etimologicamente, é um aportuguesamento do quimbundo Kifune. O verdadeiro termo local de emprego corrente, resulta de Kufunata, vergar, torcer. Compreende-se semanticamente que para a produção do ruído, tem que se vergar o polegar, quer estalando sozinho, quer também com o indicador, pelo toque das duas unhas, a do polegar na do indicador. O cafuné, segundo os apreciadores, para ser verdadeiramente apetitoso, devia estalar forte, conforme o vulgo, gritar.
- Farofa: do quimbundo falofa. Resultado de kuvala ofa, expressão que significa: parir morto. Da mecânica lingüística, com toda a sua série de transformações, originou-se o termo valofa, depois modificado para farofa. A alteração do v em f explica-se facilmente: além de serem consoantes labiodentais, o f é mais brando. Afora esta particularidade, ainda se pode admitir o fenômeno da atração silábica: a terminação fa. Agora, quanto à interpretação do sentido do vocábulo: ‘parir morto’. Parir corresponde a preparar, e morto, frio. Quer dizer: preparar com ingredientes frios. Ou melhor: sem a intervenção do calor, para efeito da cozedura.
- Samba: é um verbo conguês da 2ª conjugação, que significa adorar, invocar, rezar. No angolense ou bundo, igualmente, rezar é cusamba: na conjugação o verbo perde a sílaba inicial do presente do infinitivo; de sorte que, além deste tempo e modo, em todos os outros o termo bundo é samba, e assim é também o substantivo “adoração, reza”. Dançar é no bundo cuquina, no congo, quinina. Como pois, samba é dança no Brasil? Ora, é a dança sagrada dos feiticeiros, dos curandeiros, dos rezadores. O samba é a dança ritual, a dança da reza, a profana, o baile, o mero divertimento.
- Banguelo: muitos escravos vindos da cidade de São Filipe de Benguela em Angola, não tinham os dentes da frente, tornando-se estranha a feição apresentada. A ausência dos dentes, retirados na festa da iniciação, luto ou punição, no cerimonial comum em áreas extensas, transmitiu mais esse nome, não indicando a procedência do negro, sua cidade natal, mas agora constituindo forma peculiar na conservação da arcada dentária. Limados em ponta de adaga, ou o triângulo, com o vértice nas gengivas. Desapareceu o negro embarcado no porto de Benguela, mas o banguelo ficou no vocábulo brasileiro.
- Iaiá, ioiô: tratamentos dos escravos para com os senhores moços, rapazes e moças. As pessoas idosas não recebiam essa saudação de intimidade confiada. Nhãnhã, nhõnhõ, no sul do Brasil. Da Bahia para o norte, sempre iaiá e ioiô com o diminutivo carinhoso iaiazinha. Para ioiô atina-se provir de senhor Jacques Raimundo, citando Bentley, indica do conguês U YAYA, mãe.
- Zumbi: Zumbi ou Dele é a alma de pessoa falecida recentemente, num período não secular. O primeiro termo é mais usado no interior, o segundo em Luanda. O aportuguesamento de zumbi é canzumbi. E de Dele proveio a expressão mundele, indivíduo de raça branca. Pela decomposição, mukuá-ndele, apura-se a comparação: possuidor de alma, semelhante a alma. Zumbi e Dele derivam, respectivamente, de Kuzumbika e kuendela, ambos os verbos significando perseguir.
- Corcunda: no Aurélio, quem consulta o verbete corcunda fica sem entender como uma palavra tem origem nela própria. Segundo ele, corcunda é resultado do cruzamento de sua forma dissimulada carcunda com corcova. O lógico no entanto, é se deduzir que corcunda é que é a forma dissimulada de carcunda, porque ambas derivam do mesmo étimo banto da palavra carcunda, assinalado por ele no verbete respectivo como quimbundo e remissivo à corcunda.
VI - CONCLUSÃO
A questão relativa à parte da influência de línguas africanas nas diferenças que deram ao português do Brasil um caráter distinto de sua matriz falada em Portugal tem sido objeto de silêncio mais do que de reflexão entre lingüistas e filólogos brasileiros. A resistência para tratar do assunto encontra razões de ordem histórica e epistemológica, mas passa antes de tudo, pelo prestígio atribuído à escrita face à oralidade, por uma pedagogia que durante séculos tem privilegiado o ler e o escrever diante da não menos importante arte de falar e ouvir. Rejeita-se a hipótese do influxo de línguas africanas no sistema lingüístico do português do Brasil, a partir do princípio tácito de não admitir que línguas de tradição oral pudessem influir em uma língua de reconhecimento literário como a portuguesa. Conseqüentemente, segundo essa apreciação, os fatos que podem denunciar um movimento em direção oposta, são vistos como traços mal disfarçados pelo português em lugar de expressões de resistência e de defesa cultural dos falantes africanos ante um novo sistema lingüístico que lhes foi imposto, a exemplo da redução e simplificação dos modos verbais, de uso generalizado na linguagem popular do Brasil.
Desta forma, vale ressaltar que o estudo lingüístico das comunidades afro-brasileiras é uma contribuição necessária para os estudos dialetológicos do Brasil, aos quais dever integrar-se, dentro de uma metodologia comum e eficiente, no levantamento e descrição das variedades do português brasileiro. Esse é o caminho seguro para se identificar o caráter específico da língua nacional, que não pode ser considerada como um bloco homogêneo, pois apresenta diferenças decorrentes de variações diatópicas e diastráticas que merecem ser avaliadas. Enfim, sem o conhecimento dos dados sobre nossa realidade lingüística pouco se poderá adiantar sobre a história do português do Brasil, que, embora não tenha todos os seus momentos conservados em documentos escritos, está escrita na fala diferenciada dos brasileiros, que ainda aguarda ser documentada.
VII - BIBLIOGRAFIA
CASCUDO, Luís da Câmara. Made in África. 3ª ed. São Paulo : Global, 2001.
IV CONGRESSO LUSO-AFRO-BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS. 1996, Rio de Janeiro. Anais. Territórios de língua portuguesa: culturas, sociedades, políticas. Rio de Janeiro : Hamburg Gráfica, 1998.
ELIA, Sílvio. A unidade lingüística do Brasil. Rio de Janeiro : Padrão, 1979.
NETO, Serafim da Silva. Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil. Rio de Janeiro : Presença, 1989.
_________. Introdução ao Estudo da Filologia Portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro : Grifo, 1976.
TEYSSIER, Paul. História da Língua Portuguesa. São Paulo : Martins Fontes, 1997.
ORIGEM E USO DO FUTURO DO SUBJUNTIVO
Nos estudos da História da Língua Portuguesa percebemos a inexistência do Futuro do Subjuntivo no Latim. Contudo, observamos que esse tempo verbal é bastante utilizado no Português atual. Com o intuito de investigar os fatores que tornaram possível o uso do Futuro do Subjuntivo em nossa língua damos início a presente pesquisa.
Sabemos que a língua é um organismo vivo e que em todo momento ocorrem variações lingüísticas que influenciam ou poderão influenciar, com o passar do tempo, toda uma comunidade lingüística. O mesmo ocorreu no latim vulgar, a língua falada entre os povos colonizados pelos Romanos, em que houve muitas mudanças e evoluções até chegar ao nosso Português, usado hoje no Brasil.
Levando em consideração a vivacidade da língua, e sabendo que ela está intrinsecamente ligada com a competência e o desempenho dos falantes, é notório o fato que estes são os principais responsáveis pelas mudanças ocorridas tanto na linguagem culta quanto na linguagem popular.
Este trabalho tem o intuito de verificar as mudanças e inovações ocorridas do Latim para o Português, mais especificamente do Futuro do Subjuntivo.
I- A INEXISTÊNCIA DO FUTURO DO SUBJUNTIVO NO LATIM
No quadro abaixo temos uma visão geral dos verbos latinos que tinham por base a oposição de dois grupos de tempo: o do INFECTUM, que exprimiam a ação ou processo em seu curso de duração (aspecto imperfeito) e do PERFECTUM, que indicavam uma ação ou processo concluídos ou terminados (aspecto perfeito).
Temos abaixo como exemplo a primeira pessoa de cada tempo do verbo da 1ª conjugação:
|
|
|
INDICATIVO |
SUBJUNTIVO |
IMPERATIVO |
|
INFECTUM |
Presente |
Amo |
Amem |
Ama |
|
Imperfeito |
Amabam |
Amarem |
|
|
|
Futuro |
Amabo |
|
Amato |
|
|
|
|
|
|
|
|
PERFECTUM |
Perfeito |
Amavi |
Amaverim |
|
|
Mais-que-perfeito |
Amaveram |
Amavissem |
|
|
|
Futuro perfeito |
Amarevo |
|
|
Queremos ressaltar nesse quadro a inexistência no latim do verbo referente ao Futuro do Subjuntivo. Há no quadro uma lacuna que nos indica que tal tempo verbal não existia no Latim.
Estudos nos mostram que o Futuro Perfeito do Indicativo (amavero) que, fundido com o Perfeito do Subjuntivo(amaverim), veio a constituir o nosso Futuro do Subjuntivo (amar). Temos então: amaro (por amavero) > amar; debero (por debuero) > dever; vendero (por vendidero) > vender; puniro (por punivero) > punir.
Ismael Coutinho ressalta, em sua Gramática Histórica da Língua Portuguesa, que:
o Futuro do Subjuntivo só existe em português, no espanhol, no romeno e nos dialetos italianos. No antigo castelhano, ainda se conservara o –o da 1ª pessoa do singular. A sua queda entre nós pode explicar-se da seguinte maneira: a 1ª pessoa dos vários tempos do subjuntivo termina do mesmo modo que a 3ª pessoa: ame, amasse, deva, devesse, puna, punisse. No futuro, porém, tal não se dava: *amaro e amar. A analogia fez que desaparecesse a diferença, identificando as suas formas. (p.292-293)
Em latim, para expressar dúvida e incerteza acerca de uma ação futura, o Futuro do Subjuntivo era substituído pelo futuro do presente, exemplo: “Quando eu souber” (fut. do subj.), em latim fica “Quando eu saberei”; “Quando eu tiver terminado” (fut. composto do subjuntivo.) em latim equivale a ‘Quando eu terei terminado’. Usava-se o futuro do próprio indicativo, pois não existia em latim o futuro do subjuntivo. Frases portuguesas como: ‘enquanto houver discórdia...’, ‘se lerdes...’ e outras, em que o verbo está no futuro do subjuntivo, traduzem-se em latim como se fossem: ‘enquanto haverá concórdia...’, ‘se lereis...’. Exemplos: “Enquanto houver concórdia... = Dum erit concordia...”, “Se lereis este livro... = Hunc librum si leges...”
O Futuro do Subjuntivo no Português é formado a partir da 3ª pessoa do plural do pretérito perfeito mediante a supressão do -am. Assim temos os verbos: fizeram, viram, vieram que estão na 3ª pessoa do Pretérito Perfeito, partindo destes e suprimindo a terminação -am, teremos o Futuro do Subjuntivo: quando eu fizer, fizeres, fizer... quando eu vir, vires, vir, virmos... quando eu vier, vieres, vier...
O subjuntivo é o modo que expressa dúvida, incerteza e dependência de outro modo. Na oração: “Se ele insistir, fale comigo” temos a suposição que “ele” irá insistir; não é certo que haverá a insistência por parte do sujeito. Caso ocorra a ação do verbo insistir será necessário a ação do verbo falar por uma terceira pessoa (você) que, na oração acima, foi expressa no modo imperativo (fale). Notamos, nesse caso, a dependência do modo imperativo para completar o sentido do futuro do subjuntivo.
Francisco da Silveira Bueno afirma que:
A terminação –o (de amaro) da primeira do singular se manteve por tempos no galego como em castelhano; em português, precedida de ‘r’ que formava sílaba própria, sofreu apócope. O mesmo se passou com o -e da terceira pessoa. Nas duas primeiras pessoas do plural, achando-se a vogal ‘e’ em posição postônica, amáredes, dormíremos, dormíredes, até o século XVI. Forma mantidas, por exemplo, em “Itinerário da Terra Santa”, de Frei Pantaleão de Aveiro. Como acima foi dito, o futuro do subjuntivo se confunde muito freqüentemente com o infinitivo pessoal, nos verbos regulares. Exemplos: & hus com os outros tinhão suas praticas, & eu não entendiamos, o que nos foy causa de guardáremos a modéstia...(p.25); nos perguntavão se a conta de tomáremos hum pouco de tralho, queriamos ir ver hua Antigualha...(p.26); na qual achamos somente molheres, & miminos como espantados da nossa vista sem véremos algum homem (idem). Foi escrito o “Itinerário da Terra Santa e Todas Suas Particularidades” em 1544. As citações são da edição de 1600, de Lisboa.” (1967: 145)
Assim temos, na evolução do latim para o português, o uso do Futuro do Subjuntivo a partir do século XVI, sendo largamente usado no Português contemporâneo.
Como podemos notar nos mais diversos textos, como também na linguagem oral, o Futuro do Subjuntivo, que era inexistente até o latim, é usado em certas orações subordinadas que sugerem idéia de futuro. Temos abaixo alguns exemplos de orações subordinadas que são compostas por verbos no Futuro do Subjuntivo sugeridas por Napoleão Mendes de Almeida:
a) Condicionais com se, quando a hipótese é possível:
Irei se puder .
Se você não quiser, não farei.
b) Temporais com quando, enquanto, logo, que, depois que, assim que, sempre que:
Irei quando nada houver que fazer.
Enquanto me quiserem aqui, aqui ficarei.
Sairei assim que me virem.
Sempre que eu disser sim, digam não.
c) Relativas:
Haja o que houver, irei.
Diga o que quiser, estará mentindo.
Quem for inocente atire a primeira pedra.
d) Proporcionais:
Quanto mais quiserem, tanto mais terão.
e) Comparativas:
Farei tal qual mandarem – Dirão tanto quanto puderem.
f) Conformativas:
Agirei conforme ele disser.
Farei da mesma maneira que ele fizer.
Além do mais, como característica de estilo, o presente do indicativo pode vir em lugar do futuro do subjuntivo com efeito enfático: ‘Se avanças, morres’
Cabe ressaltar que, o Futuro do Subjuntivo é usado desde os textos mais arcaicos tal como o temos ainda hoje, exemplos: “Santo Dom Manuel de Souza, lhe socorrei se lhe puderdes dar vida”(Gil Vicente em “O Velho da Horta” (1512)) “...se m’eu quiser trabalhar.”(idem, ibidem)
Temos outros inúmeros exemplos de Futuro do Subjuntivo na Literatura, nos textos bíblicos e nos textos informativos contemporâneos, exemplos:
“...Quando o tempo branquear os teus cabelos, vais um dia, mais tarde, revivê-los nas lembranças que a vida não desfez...” (J.G. De Araújo Jorge, 1934)
“Disse-lhes Jesus: Quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo; mas falo como o Pai me ensinou.” (Bíblia - Evangelho de S. João 8:28)
“O Brasil se tornará um país forte quando exportar tecnologia e acabar com a miséria de milhões de seus cidadãos.” (umas das Manchetes da capa da Revista Veja, 18 de Julho de 2001, ano 34, n.º 28).
É importante verificar que na linguagem oral, o Futuro do Subjuntivo é, da mesma forma, muito utilizado. Contudo, é comum notar problemas na conjugação, especialmente quando se refere ao verbo ver, assim como: “Quando você me ver de bengala...” , “Sempre que eu ver você fumando...” Esse tipo de construção se constitui erro, e dos graves, pois sabemos que a forma do Futuro do Subjuntivo do verbo ver é: vir, vires, vir, virmos, virdes, virem. A construção correta das orações são: “Quando você me vir de bengala...”, “Sempre que eu vir você fumando...” Tal problema se constitui devido à semelhança do verbo ver com o vir, porém esta construção errônea, muitas vezes, passa desapercebida, sendo comumente ‘aceitável’ e entendida pelos ouvintes e falantes da língua.
CONCLUSÃO
Assim como a Língua de forma geral sofre mudanças com o passar do tempo e, que tais modificações são determinadas pelo usuário, os verbos que hoje utilizamos na fala e na escrita, sofreram alterações desde o Latim até chegar ao Português.
Como vimos, o Futuro do Subjuntivo não existia no Latim, empregava-se em vez deste, o futuro do presente para expressar ações de incerteza e dúvidas quanto ao futuro.
Enfim, o Futuro do Subjuntivo é hoje e desde o século XVI, utilizado na Língua Portuguesa, tanto na linguagem oral quanto na escrita, aparecendo nos mais diversos textos literários, informativos, textos sagrados, além de ser também usado com grande freqüência na linguagem oral.
BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática Latina: curso único e completo. 23ª ed. São Paulo : Saraiva, 1990.
––––––. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. 37ª ed. São Paulo : Saraiva, 1992.
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37 ed. cor. e ampl. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001.
BUENO, Francisco da Silveira. A formação histórica da Língua Portuguesa. 3ª ed. Revista. São Paulo : Saraiva, 1967.
CARDOSO, Wilton & CUNHA, Celso. Português através dos Textos.
COUTINHO, Frederico dos Reys. (Seleção, prefácio e notas.) As mais belas Poesias Brasileiras de Amor. 7ª ed. Rio de Janeiro : Vecchi.
COUTINHO, Ismael Lima. Gramática Histórica. 7ª ed. Ao Livro Técnico : 1976.
TERRA, Ernani & NICOLA, José. Verbos. Guia prático de emprego e conjugação. 2ª ed. São Paulo : Scipione, 1995.
Provérbios: Sabedoria de um povo
Os Provérbios e seus opostos
Nadir Fernandes Rodrigues Cardote
Como não podia estar em todos os lugares, Deus criou a mãe. (provérbio hebreu)
Os provérbios exigem três ‘sss’: sal, senso e sensibilidade. (Paulo Rónai)
Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocados jurídicos, máximas, é de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação, ou de agradecimento. (Teoria do Medalhão. Machado de Assis. Apud . Iza Quelhas)
Provérbios são ruínas de velhas histórias. (Walter Benjamin. Apud Iza Quelhas)
Os Provérbios são telegramas que os antigos nos deixaram para nos transmitir a notícia de sua sabedoria. (Eno Teodoro Wanke – Pensamentos Moleques)
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Mágoas, penas prazeres de meus longos dias
são freqüentemente ilustrados por uma citação;
enobreço minha dor de queixas murmuradas…
Ó mágico poder da encantação!
Ó colmeias de ouro que são as memórias ornadas!
(Léo Larguier)
Provérbio: sm. ‘máxima ou sentença de caráter prático e popular, comum a todo um grupo social, expressa em forma sucinta e geralmente rica em imagens’ XIV. Do lat. Proverbium –ii // proverbiAL XVIII. Do lat. Proverbialis. (CUNHA, Geraldo da. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.
Ao conjunto de provérbios, adágio, ditado, anexim, brocardo, refrão, rifão, axioma, aforismo, apotegma, máxima, sentença, dá-se o nome de paremiologia.
Paremiologia [do gr. paroimía, “parêmia”]. Coleção de parêmias ou provérbios. (Dicionário Aurélio)
Os provérbios são sínteses de justiça e conhecimento, que chegam às gerações em forma de sabedoria popular, para respaldar uma idéia, ratificar melhor um argumento, endossar o nosso parecer como verdade incontestável, seria, pois, “uma estratégia para lidar com uma situação”, um elemento persuasivo em favor de quem o declina.
É o provérbio um enunciado anônimo, exceto os provérbios bíblicos, sua origem remonta a um passado na história da humanidade, faz parte da cultura e do folclore de um povo e o mais apaixonante de tudo é o seu caráter “político-social”, pois o provérbio não tem fronteiras, ele é universal, um mesmo provérbio pode ser encontrado em várias línguas:
Pelos frutos conhece-se a semente.
A árvore se conhece pelos frutos.
De fructu arborem cognosces.
On reconnaît l’arbre à ses fruits.
El árbol por el fruto es conocido.
Por el hilo sacarás el ovillo.
Ogni erba si conosce per lo seme.
An der Frucht erkennt man den Baum.
By its fruit each plant is known.
A tree is known by its fruit.
Não se pode determinar como surgiu o primeiro provérbio, apenas podemos inferir que em todos os lugares existe uma sabedoria que vem do povo e que se expressa através de vários significados, trazendo em seu bojo a essência do viver com todas as suas contradições.
E é a partir dessa visão de idéias opostas, trazida pela “Literatura Oral”, representada pelos provérbios, que iremos nos deter.
OS PROVÉRBIOS E SEUS OPOSTOS
O mundo é feito de contradições: o bem e o mal; o bom e o ruim; o certo e o errado; o sim e o não; a vida e a morte, poderíamos, assim, seguir indefinidamente, sempre encontrando um oposto para uma idéia enunciada. O mundo segue sempre obedecendo a ‘lei da relatividade’ proposta pelo físico Albert Einstein ― dependendo do referencial de quem olha, observamos o trem da vida parado ou em movimento ―.
Por isso, essas forças opostas que compõem os provérbios servem como um ponto de equilíbrio, pois segundo Aristóteles “A virtude está no meio”. Usando a linguagem dos provérbios: “Quem chega na frente bebe água limpa”, mas “Quem tem pressa como cru.”
O EQUILÍBRIO DA VIDA
O excesso de luz cega a vista.
O excesso de som ensurdece o ouvido.
Condimentos em demasia estragam o gosto.
O ímpeto das paixões pertuba o coração.
A cobiça do impossível destrói a ética.
Por isto, o sábio em sua alma
Determina a medida para cada coisa.
Todas as coisas visíveis lhe são apenas
Setas que apontam para o Invisível.
(TAO TE KING – O livro que revela Deus. LAO-TSE. Trad. e notas de Humberto Rohden. São Paulo : Alvorada, 1982)
Tomemos alguns provérbios antagônicos:
1. Longe dos olhos, perto do coração. // O que os olhos não vêem, o coração não sente.
2. Rei morto, rei posto. // Quem foi rei nunca perde a majestade.
3. As roupas não fazem o homem. // O alfaiate faz o homem. // Boa aparência é carta de recomendação.
4. Depois da tempestade vem a bonança. // Um problema nunca vem sozinho. // Uma desgraça nunca vem sozinha. // Depois da tempestade, vem a gripe.
5. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. // Amanhã é outro dia. // Não faças hoje o que podes deixar para amanhã.
6. Nunca é tarde para aprender. // Cachorro velho não aprende novos truques. // Boi velho não toma andadura.
7. Quem cedo madruga acha o que comer. // Não é por muito madrugar que amanhece mais cedo. // Quem corre da alvorada, ao pôr-do-sol não vive muito. // Mais vale quem Deus ajuda, do que quem cedo madruga. // Quem madruga fica com sono o dia inteiro.
8. Ruim com ele pior sem ele. // Antes só do que mal acompanhado.
9. Quem corre, cansa; quem anda alcança // Quem anda devagar vai longe. // Quem corre alcança, quem anda, nunca chega lá. // Alcança quem não se cansa.
10. Onde há silêncio a razão predomina. //Quando algo importante está acontecendo, o silêncio é uma mentira.
11. A pressa é inimiga da perfeição. // Quem muito escolhe, mal acerta
12. Quem espera, sempre alcança. // Quem espera, sempre alcança, ou fica cansado. // Quem espera nunca alcança. // Quem espera, chega atrasado. // Quem espera, desespera.
13. Há males que vêm por bem. // Há males que vêm para pior.
14. Quem não tem cão, caça com gato. // Quem não tem cão, caça como gato. // Quem não tem cão, não caça.
15. Quem dá aos pobres empresta a Deus. // Quem dá aos pobres, empresta. Adeus! // Quem dá aos pobres fica com menos. // Quem dá o que é seu, sem ele se fica. // Quem dá o que tem, a pedir vem. // Quem dá o que tem, fica sem vintém. // Quem dá ou empresta, adeus. // Quem empresta aos pobres dá adeus.
16. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. // Água mole em pedra dura, tanto bate e nunca fura. // Água mole, pedra dura, tanto bate até que acaba.
17. Os últimos serão os primeiros. // Os últimos serão desclassificados.
18. Quem o feio ama, bonito lhe parece. // Quem o feio ama, é porque vê mal.
19. Quem desdenha quer comprar. // Quem desdenha não tem dinheiro para comprar.
20. A ocasião faz o ladrão. // A ocasião faz o furto, o ladrão já nasce feito. // O perdão faz o ladrão. // Ladrão de tostão, ladrão de milhão. // Cerca ruim é que faz o ladrão.
21. Devagar se vai ao longe. // Devagar nunca mais lá se chega.
22. Muito falar é pouco acertar. // Em boca fechada não entra mosca. // Boca fechada não fala. // Quem cala consente.
23. Quem fala a verdade não merece castigo. // Nem toda a verdade se diz. // A verdade dispensa enfeites. // Ao médico, ao advogado e ao abade falar a verdade. // Romancear não é mentir. // Somente as crianças, os tolos e os bêbados falam a verdade. // O exagero é a verdade com mania de grandeza. // É melhor uma mentira que consola do que uma verdade que magoa. // Uma verdade na hora errada é pior do que a mentira. // A arte de agradar é a arte de enganar. // Quem não sabe dissimular não sabe reinar. // A dissimulação é a primeira das virtudes do homem civilizado. // Falar a verdade com a intenção de ferir é pior do que enganar ou mentir. // Às vezes é preciso adiar a verdade. // A diferença entre a verdade e a ficção é que a ficção faz sentido. // A ficção revela verdades que a realidade esconde. // A falsidade é a mentira que aprendeu a sorrir. // Deus não é contra a mentira se a causa é nobre.
24. Livros fechados não fazem letrados. // Mais vale ler um homem que cem livros.
25. Quem pergunta, mal não faz. // Quem pergunta e quer saber, mexerico quer fazer. // Nem toda pergunta merece resposta. // Não faça perguntas e não ouça mentiras. // Nenhuma resposta é muitas vezes a melhor resposta. // A melhor das respostas é a que não se dá.
26. O Sol brilha para todos. // O Sol nasce para todos; a sombra para quem merece. // O Sol nasce pra quem compra e se põe pra quem vende.
27. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. // Os últimos serão desclassificados.
28. Palavra de rei não volta atrás. // Palavra dada, palavra empenhada. // Palavra não enche barriga. // Palavras o vento as leva; papel é documento.
29. Os grandes venenos estão nos frascos pequenos. // Os maiores perfumes estão nos frascos menores
30. “Devagar se vai ao longe”,
Mas custa tanto a chegar
Só paciência de monge
Para agüentar esperar.
31. “Mentira tem perna curta”,
Todos sabem a oração.
Mas e se o tempo ela encurta
Viajando de avião?
32. “Longe dos olhos, longe do coração”,Dizia o cego, esnobando erudição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os Provérbios são uma fonte de conhecimento do passado e do presente, e ao mesmo tempo, incorporam-se ao cotidiano, permanecendo muitas vezes com sua forma ‘arcaizante’ ou com uma versão mais moderna, de acordo com a mudanças e transformações inerentes ao próprio mundo, como:
1. “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura | Água mole em pedra dura, tanto bate até que falta água.”
2. “Antes só que mal acompanhado. | Antes só que Malan acompanhado.”
3. “De grão em grão a galinha enche o papo. | De Fernando em Fernando o Brasil vai-se afundando.”
4. “Depois da tempestade vem a bonança. | Depois da tempestade vem o lamaçal.”
5. “Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. | Não há mal que sempre dure, nem mal que sempre se ature.”
Algumas características são constantes nos provérbios, dentre elas destacamos:
a) são breves, curtos, muitas vezes com frases nominais;
b) são conhecidos e aceitos de antemão, temos sempre a sensação de já tê-los ouvido anteriormente;
c) a universalidade de suas mensagens;
d) têm um ‘saber de experiência feito’, são lições de vida;
e) têm uma autoridade que lhe imprime uma verdade inquestionável;
f) não se referem a nenhum caso em particular, tem um caráter geral;
g) são práticos, nos ajudam, são ferramentas que podemos dispor, para ratificar, tornar verdadeiro e indiscutível qualquer assertiva;
h) expressam princípios, normas de conduta, juízo de valor.
São os provérbios de grande valia para o entendimento do folclore e cultura de um povo, pois eles revelam sua alma, seu espírito, seus costumes, transmitem-nos a realidade da vida com suas contradições. E assim, sempre encontraremos alguma lição que nos faça refletir sobre a vida.
Se o velho pudesse e o jovem soubesse, não haveria nada que não se fizesse.
BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, Renato. Inteligência do Folclore. 2ª ed. Rio de Janeiro : Americana; Brasília : INL, 1974.
CASTELLIANO, Tânia. A comunicação e suas diversas formas de expressão. Rio de Janeiro : Record, 2000.
RÓNAI, Paulo. Dicionário universal nova fronteira de citações. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1985.
SILVA, José Pereira da. Ensaios de Fraseologia. Rio de Janeiro: CiFEFiL /Dialogarts, 1999.
TEIXEIRA, Nelson Carlos. O grande livro dos provérbios. Belo Horizonte : Leitura, 2000.
VELLASCO, Ana Maria de Moraes Sarmento. Coletânea de provérbios e outras expressões populares brasileiras. Internet.
WEITZEL, Antônio Henrique. Folclore literário e lingüístico; pesquisa de literatura oral e de linguagem popular. Juiz de Fora : EDUFJF, 1995.
José Marcos Barros Devillart
INTRODUÇÃO
O Latim, língua oficial do Império Romano, durante séculos foi falado por milhares de pessoas e levado, por intermédio das conquistas romanas, aos mais diferentes povos e culturas que habitavam a Europa, África e Ásia. Com seu grandioso número de falantes, sofrendo constantes influências das línguas faladas pelos povos dominados por Roma e considerando que a língua não é um sistema estático, o Latim passa por tantas modificações que seria praticamente impossível listá-las. Estas modificações ou evoluções são até hoje objeto de estudos de muitos, embora não se tenha a certeza de onde, quando e como elas ocorreram.
Um aspecto muito curioso no que diz respeito a comparação entre a Língua Latina e as línguas derivadas dela (Línguas Românicas) são as evoluções fônicas, o estudo destas torna-se complicado já que não se possui nenhum material gravado que nos mostre a língua original sendo pronunciada. Sabe-se que estas evoluções são as responsáveis pela diferença entre as línguas românicas, cada uma destas línguas passou por processos diferentes, por isso a Língua Portuguesa não é igual à Italiana, que por sua vez não é igual à Espanhola e assim por diante. Estas diversidades regionais são relatadas por Rodolfo Ilari, p. 78:
(...) com a queda do Império Romano no século V d.C., e o conseqüente desmembramento da România numa série de domínios lingüísticos mais ou menos estanques. Nesse período, surgem em maior número as inovações independentes, que levarão, com o passar do tempo, aos sistemas consonantais das línguas românicas, tais como conhecemos hoje.
A Língua Portuguesa, por exemplo, herdou um aspecto que não ocorria mais no Latim Vulgar (uma espécie de Latim usado com fins comerciais, de maneira cotidiana pelo povo, por isso denominado “sermo vulgaris” ), este aspecto é a manutenção da diferença entre /b/ e /v/.
A distinção entre /b/ e /v/, que ocorre desde meados do século XVI até os dias de hoje no Brasil não é comum em todas as línguas românicas. Em algum ponto na história, na época em que o Latim cede lugar às línguas derivadas dele, o que deveria ser uma evolução normal passa a gerar diversos ramos e atualmente pode ser usada como uma das características próprias de uma determinada língua.
Na Língua Portuguesa falada no Brasil atualmente encontram-se palavras escritas e pronunciadas com /b/, outras com /v/ e ainda algumas que aceitam ambas as formas, como, por exemplo, as palavras covarde e cobarde, que possuem o mesmo significado.
Como pode então o Latim Vulgar não distinguir mais o /b/ do /v/, ocorrência desta vertente no Espanhol, e o Português continuar distinguindo? E as palavras que possuem o mesmo significado, embora sejam escritas com /b/ ou /v/ dependendo do gosto de cada um? E será que a “permuta entre /b/ e /v/” é uma tendência da Língua, pois ouvimos formas de origem popular como trabesseiro para travesseiro, sobaco para sovaco, cabaco para cavaco, berruga para veruga etc.? Estas perguntas não fariam sentido se a Língua Portuguesa em questão não distinguisse tais fonemas.
O LATIM
O povo latino jamais conheceu a letra v[1], o que se tornou corriqueiro no latim vulgar foi um fonema ocasionado pela fricção da labial sonora /b/ que já existia no latim desde sua origem. Este fonema era transcrito pela letra u, que ocasionou uma certa confusão com o grafema da vogal /u/. Petrus Ramus difundiu então na Renascença um grafema para um fonema já existente no latim vulgar, então em latim existiam dois fonemas com uma única grafia, o /u/ vogal e uma espécie de /u/ quase consonantal. A iniciativa de Petrus tinha por finalidade facilitar as traduções. Pode-se notar em alguns trechos do Testamento de Dom Afonso II, datado do século XIII e transcrito por José Leite de Vasconcellos, tal confusão:
...outras que tenio em uoontade por dar por mia alma. E nonas uuer a dar.
Ao mosteiro de san uicẽte de lixbona .d.mr. por meu ãniuersario.
Não existe ainda aqui a presença do v, a palavra vontade é escrita como uoontade, aniversário como ãniuersario. Palavras como outras e meu usam a forma que conhecemos hoje na Língua Portuguesa atual.
Voltando ao latim vulgar observa-se que não mais existia diferença fonética entre a letra b e a letra v, ambas eram pronunciadas da mesma forma, como atesta Heinrich Lausberg:
O v latino tinha originalmente a fonação [u], mas desarredondado para /b/ por altura do começo da era cristã, fundindo-se com o resultado do /b/ latino. Assim o latim vulgar já não conhece qualquer diferença entre v e b latinos, que se pronunciam ambos /b/.
O /b/ é um fonema fricativo bilabial, diferente do /b/, que é oclusivo bilabial e do /v/ que é fricativo labiodental.
A fusão apenas aconteceu no campo fonológico, as palavras continuavam sendo escritas normalmente, umas usando b outras usando u (mais tarde transformado em v).
Segundo a Fonética Descritiva aconteceu no latim vulgar um fenômeno que ocasionou o “relaxamento do arredondamento dos lábios”, por tanto o [u] – anterior arredondado- passa a /v/ -fricativa anterior, que o Latim Clássico desconheceu. O latim vulgar tendenciou para a crase entre o [u] vogal e o [u] semivogal, pode-se ver esta tendência marcada com ênfase no Appendix Probi:
avus (auus) non aus
flavus (flauus) non flaus
rivus (riuus) non rius [2]
A partir de tal confusão encontram-se palavras no português atual que admitem duas formas, uma escrita com – u – outra com – v – : nevrologia = neurologia, do grego neuron + logos; nevrite = neurite; nevrótico = neurótico; nevrose = neurose, do grego neuron.
Estudiosos como Cícero e Tertuliano, deixaram muitas observações sobre os “erros” e os hábitos dos falantes do latim, principalmente do latim vulgar, mas foi o gramático Probo o primeiro, pelo que se tem notícia, a manifestar um certo descontentamento a respeito da evolução fonológica[3] da língua, uma destas foi a permuta do /b/ pelo /v/; em seu Appendix Probi datado provavelmente do século III d. C. ele descreve uma lista de palavras contendo a forma “correta” e a forma “errada”. A partir da forma dita errada ou a forma que não deveria existir, desenvolveram-se as Línguas Românicas.
Appendix Probi:
9- baculus non vaclus 93- tabes non tavis
A primeira forma pertence ao Latim Clássico, sempre escrito e apurado, e a segunda ao “erro” falado pelo povo, o Latim Vulgar.
O Appendix Probi é o primeiro documento que registra a alternância entre /b/ e /v/. Por intermédio dele é que se verifica uma das diferenças que marcam a passagem do Latim Clássico para o Latim Vulgar: “a africção da labial sonora b”, que apenas consolidou-se no século II d.C.
O número de permutas entre b e v é muito maior quando estas letras encontram-se em posição intervocálica do que em posição inicial. Durante o período latino (até o final do Império) o b intervocálico passa a v, mas permanece em posição inicial.[4]
Ex.: plebes non plevis
A DISTINÇÃO ENTRE /b/ E /v/ NAS LÍNGUAS ROMÂNICAS
“Ao receber o latim cada povo o transformava a seu modo, de acordo com os hábitos fonéticos próprios.” (COUTINHO, p. 44) . As línguas românicas são derivadas dos romances, espécie de latim que sofreu modificações regionais, e por esta razão cada uma passou por um tipo de “evolução própria”; isto se deu pela incorporação de outros idiomas, pela diversidade do meio, pela extensão territorial, por fatores históricos, etnológicos, políticos, entre outros. Com relação ao fonema /v/ (fricativa labiodental sonora, em Português do Brasil) relata-se que:
Em sardo (língua falada na Sardenha ) o / v / foi mantido nos dialetos centrais (Bitti e Nuoro) como labiodental. Nos outros dialetos o /v/ desapareceu, o mesmo desaparecimento ocorreu no romeno.
Em italiano o /v/ foi mantido como labiodental, mas em alguns dialetos aparece a bilabial /b/. No reto-romano, franco-provençal, francês, provençal e português foi mantido o /v/ labiodental.
O espanhol, catalão, gascão e parte do provençal apresentam a pronúncia bilabial /b/, representada na grafia pelo – b – e – v – .
A título de exemplificação tomemos a evolução da palavra latina caballu:
Latim sardo romeno italiano francês espanhol português
caballu caddu cal cavallo cheval caballo cavalo
/v/ /v/ /b/ /v/
Em sardo e romeno o b passa a v que se vocaliza e depois cai.
Através destes dados pode-se notar que a evolução ocorrida no latim vulgar não atingiu toda a área do Império Romano. Com a queda do Império no século V dC. e conseqüentemente com a sua fragmentação a língua latina sofreu, em cada região onde era falada, mutações particulares donde originaram-se as línguas românicas, por isso observa-se as diferenças atuais.
Ex. Do latim *sapere[5] desenvolveu-se a forma saber em português e espanhol, savoir em francês e sapere em italiano.
O /p/ latino sonoriza-se em português e espanhol passando para /b/, após sonorizar-se passa a /v/ em francês, mas permanece em italiano. Esta é uma prova de que as línguas românicas tomaram rumos diferentes.
Em Portugal existe o que Paul Teyssier chama de “fronteira entre /b/ = /v/ e
/b/ ¹ /v/”. Esta fronteira determina a região onde /b/ e /v/ são pronunciados como /b/, semelhante ao Espanhol e a região onde /b/ e /v/ são pronunciados distintamente, semelhante ao Português falado no Brasil. Em Portugal este fenômeno “ teve por efeito marginalizar mais uma vez os falares do Norte em relação aos do Centro e do Sul.” Paul Teyssier. Ver mapa 1.
A CONFUSÃO
O u semivogal e o b intervocálico passam a v [6] ao mesmo tempo, por isso o que ocorreu no latim não foi apenas uma evolução e sim uma confusão fonética que resultou na fusão de ambos fonemas formando apenas um, /b/ – fricativa bilabial, conservado até hoje no espanhol e que pode ter gerado confusões posteriores no português pela proximidade dos dois países. (Ver mapa, ao final do artigo). Pode-se notar isto em outros exemplos do Appendix Probi:
44- bravium non brabeum
70- alveus non albeus
215- vapulo non baplo
Considerando que a primeira forma pertence ao Latim Clássico e a segunda ao Latim Vulgar, pode-se observar que havia palavras em Latim Clássico que já usavam o fonema /v/, grafado através da letra u, que o latim vulgar trocou para /b/. Portanto as línguas latinas herdaram no início de sua existência um sistema aleatório, onde o /b/ podia passar a /v/ ou o /v/ podia passar a /b/, e não uma regra.
Serafim da Silva Neto cita alguns exemplos desta perturbação fonética:
“berbex em vez de vervex... barba > barva, bibere > bever, véspera > bespora, vipera > bivora.”
Em algumas palavras o b inicial passa a v, em outras não; em algumas o v inicial passa a b e em outras ocorre o mais comum o b intervocálico passa a v.
DIFERENÇAS FONÉTICAS ATUAIS
Atualmente os fonemas /b/ e /v/, que são distintos no português falado no Brasil, possuem entre si poucas diferenças quando se leva em consideração o modo de articulação, o ponto de articulação, a participação das cordas vogais e das narinas. Observa-se no quadro abaixo:
|
|
/ b / |
/ v / |
|
alto |
- |
- |
|
anterior |
+ |
+ |
|
arredondado |
- |
- |
|
bilabial |
+ |
- |
|
consoante |
+ |
+ |
|
contínuo |
- |
+ |
|
fricativo |
- |
+ |
|
labiodental |
- |
+ |
|
nasal |
- |
- |
|
oclusivo |
+ |
- |
|
recuado |
- |
- |
|
silábico |
- |
- |
|
vozeado |
+ |
+ |
O /b/ por ser um fonema oclusivo não pode ser pronunciado continuamente, o mesmo não acontece com o /v/ que por ser fricativo possui a característica de ser contínuo, como uma vogal. Pode-se relacionar esta característica à questão do v ser uma espécie de evolução do u. A diferença mais marcante entre os dois fonemas refere-se ao ponto de articulação, embora ambos sejam anteriores um é bilabial (/b/ ) o outro labiodental (/v/ ), fora estas os dois fonemas são idênticos, o que facilitaria qualquer aproximação entre eles.
NO PORTUGUÊS DO BRASIL
A Língua Portuguesa falada e escrita no Brasil conserva a distinção entre /b/ e /v/, embora muitas palavras existentes no seu léxico utilizem formas duplas, outras pertençam a linguagem popular e muitas outras descendam de uma raiz diferente . Abaixo algumas dessas palavras:
A palavra latina parábola deu origem a palavra
A palavra venda (faixa para cobrir os olhos) vem do germânico blinda
A palavra volvita do latim deu origem a palavras com grafia e pronuncia em –b-: abóboda (teto arqueado), abobado, abobador, abobadilha.
Abutre vem do latim vulture
acobardar o mesmo que acovardar
alba o mesmo que alva
albacora o mesmo que alvacora, do árabe albakora
albor o mesmo que alvor
aldraba o mesmo que aldavra, do árabe addabba
anuviar, do latim adnubiare
aprobativo o mesmo que aprovativo, do latim probare
arbóreo, do latim arboreus (relativo ou semelhante à árvore), do latim arbore. Em português encontram-se arborescer e arvorecer provenientes do latim arborescere
assobiar o mesmo que assoviar, do latim sibilare
assoviadeira o mesmo que assobiadeira (ave aquática ou planta que cresce nos campos)
azinhavre o mesmo que zinabre
barrão o mesmo que varrão (porco não castrado)
beltrão possui a forma popular não aceita: veltrão
bravo o mesmo que brabo, do latim barburu > bravus
brinco vem do latim vinculo
carabina, do francês carabine, encontra-se em português a forma clavina
catanduba o mesmo que catanduva
cavaco (lasca de madeira) vem do castelhano cabaco
cavalgar, do latim caballicare
cobarde o mesmo que covarde
comprobatório, próprio para comprovar
gavela, variante gabela; do latim gabella
gaveta, do latim vulgar gabita
gaviete (espécie de alavanca) vem do castelhano gabiete
gerbão o mesmo que gervão
herboso o mesmo que ervoso
hibernar o mesmo que inverrnar
imobiliário, relativo à imóvel. Móvel, do latim mobile
indubitável, de que não se pode duvidar, do latim dubitare
labradorita o mesmo que lavradorita
labrosta (rústico) vem do latim lavrar
lavareda o mesmo que labareda
lavoura vem do latim laboria
lavrador (aquele que trabalha com a terra) é diferente de labrador (cão de caça)
livrar, do latim liberare; libertar, do latim libertate
mangaba o mesmo que mangava (espécie de vespa)
mangangaba o mesmo que mangangava
pacoba o mesmo que pacova (banana)
piaba o mesmo que piava (peixe fluvial, origem indígena)
piaçaba o mesmo que piaçava
silvar o mesmo que sibilar, do latim sibilare
sovaco possui a forma popular não aceita: sobaco
soveral o mesmo que sobral
tava o mesmo que taba
tavão (inseto que ataca bois) vem do latim tabanu
taverna o mesmo que taberna; taverneiro e taberneiro
távola o mesmo que tábua
trabécula é o diminutivo erudito de trave
trave, do latim trabe
travesseiro possui a forma popular não aceita: trabesseiro
trovador, do latim trobador
turbar o mesmo que turvar, do latim turbare
vasculhar o mesmo que basculhar
vasculho o mesmo que basculho
verruga do latim: verruca possui a forma popular não aceita: berruga
xaveco (barco pequeno), do árabe xabbak
Podem-se encontrar nos dicionários de língua portuguesa vocábulos escritos e pronunciados que aceitam as formas com /b/ e /v/ simultaneamente como exemplo taberna e taverna, mangaba e mangava, lavareda e labareda; chega-se à conclusão de que estas formas são originárias de uma mesma raiz que sofreu a evolução /b/ e /v/ e por algum motivo sobreviveram ambas as formas (a anterior e a evoluída), embora a maioria dos vocábulos escritos com – b – e – v – provenham de formas que não ocorreram por causa da alternância em questão. Como exemplo temos:
sapore > sabor; superbia > soberba; lupu > lobo; ripa > riba
Nos exemplos acima observa-se a sonorização (/p/ - /b/).
Outras palavras sonorizam o /f/ na última fase do latim:
aurifice > ourives; profectu > proveito, defensa > devesa
Nas palavras que ocorreram os metaplasmos citados acima não existe confusão entre /b/ e /v/, pois estas não passaram pelo processo de permuta.
Os vocábulos mais frágeis à alternância de /b/ e /v/ , no português do Brasil, são os que após terem sido sonorizados passaram por mais um metaplasmo que transformou o – b – intervocálico em – v – .
scopa > escoba > escova; populu > poboo > povo.
A permanência do /b/ ainda em português explica-se pela reintrodução da forma erudita, talvez ocorrida na fase Pseudo-etimológica da Língua Portuguesa, atestada por Ismael de Lima Coutinho:
A presença do – b – , em português, justifica-se, ou por ter sido a forma vernácula refeita segundo o latim : sebu > sevo (arc.) e sebo, tabula > távoa (arc.) e tábua; ou por ser a palavra de introdução culta diabolu > diabo. (COUTINHO, p. 113).
Hoje em dia as formas escritas tanto com – b – como com – v – e aceitas pelos dicionários mais comuns provém desta reintrodução. Toma-se o vocábulo erva que provém do latim herba, o que explicaria formas como herbívero, herbáceo, herbário se não a reintrodução da forma erudita? Segundo Ismael de Lima Coutinho na fase Pseudo-etimológica da ortografia da Língua Portuguesa “ O critério adotado (...) é respeitar, tanto quanto possível, as letras originárias da palavra, embora nenhum valor fonético representem.”. Por isso ocorreu uma retomada dos textos do Classicismo Greco- Romano, onde procurava-se imitar ao máximo as palavras gregas e latinas; então formas “evoluídas”[7] e “eruditas” passaram a coexistir. Ocorre no século XVI uma disparidade entre fonologia e ortografia e em 1576, Duarte Nunes de Leão escreve Orthographia da Lingoa Portuguesa [8]; esta foi a primeira obra da Língua Portuguesa que trata do problema referente ao /b/ e ao /v/.
O que muito se vee nos galegos e em alguns portugueses dentre Douro e Minho, que por vós e vosso dizem bos e bosso, e por vida dizem bida, e quasi todos os nomes em que há v consoante mudão em b, e como se o fizessem aas vessas, o que nós pronunciamos per b pronuncião per v. (LEÃO, 1576).
Nestas regiões o - b – e o – v – são pronunciados como /b/ e por isso não se distinguem, a própria dinamicidade da língua se encarregará de evitar possíveis confusões originadas por tal fusão no campo da língua falada. Os próprios falantes substituirão uma das formas ou as usarão a fim de surtir um efeito jocoso e/ou estilístico.
Encontram-se também vocábulos de origem estrangeira que após terem sido introduzidos no latim ou no romance sofreram as mesmas evoluções:
alfavaca, do árabe alhabaka; alcaraviz, do árabe alkarabis.
Tem-se ainda palavras que não passaram por estes metaplasmos, como exemplo alabastru que deu em português alabastro e por isso não existe nenhum motivo para uma possível forma alavrastro.
Encontram-se formas como afável > afabilidade, sensível > sensibilidade, impossível > impossibilidade, provável > probabilidade, móvel > mobilidade, viável > viabilidade, mutável > mutabilidade, entre outras, onde a substantivação das formas adjetivas terminadas em – vel passam a uma forma com b, contudo este b não é próprio da formação de substantivos, pois em nocivo temos nocividade, civil temos civilidade.
Na Língua Portuguesa falada no Brasil ninguém confunde bacilo com vacilo, bala com vala, balsa com valsa, bocal com vocal, biela com viela, botar com votar, baia com vaia, etc. Isto confirma que apenas os vocábulos provenientes de uma mesma raiz e que possuem o mesmo significado ou talvez um parecido podem usufruir de uma forma com /b/ e outra com /v/ simultaneamente sem causar nenhuma espécie de ambigüidade.
CONCLUSÃO
Procura-se responder ao longo do trabalho todas as perguntas feitas na Introdução, sabendo-se que o aprofundamento deste estudo e um tempo maior voltado para a pesquisa levantará novos conceitos e novas descobertas. Confirma-se que a presença do fonema /b/ na Língua Portuguesa deve ser ocasionado pela sonorização do /p/ latino, pela reintrodução de formas eruditas e pela influência estrangeira. A presença do fonema /v/ ocorre pela sonorização do /f/ e pela ajuda do seu difusor Petrus Ramus.
A Língua Portuguesa falada no Brasil conserva a distinção destes fonemas por causa da colonização portuguesa. Esta distinção chegou até nós com os povos do Centro e do Sul, já que segundo Duarte Nunes de Leão, na região lusitana do Norte não ocorre tal distinção. No Brasil não existe nenhum tipo de confusão, pois as únicas palavras que admitem uma forma dupla, tanto na linguagem culta como na popular, possuem o mesmo significado: cobarde = covarde, alba = alva; travesseiro = trabesseiro, bravo = brabo.
A existência de um único fonema (/b/) para as letras – b – e – v – em Espanhol pode ter ocorrido por influência latina, pois a última fase desta língua falada é marcada pela união do – b – e do – v – , ambos pronunciados como /b/ - fricativa bilabial. Esta evolução pode ter chegado até o Centro de Portugal e não ter conseguido migrar em direção ao Sul. Muitas hipóteses podem ser levantadas a este respeito e só estudos mais aprofundados poderão rejeitar ou confirmar algumas delas. Segundo Paul Teyssier:
“(...) os historiadores das línguas peninsulares não têm a este respeito uma opinião concordante.”
LEGENDA
![]() Região
de Portugal onde o / b / ¹ / v /
Região
de Portugal onde o / b / ¹ / v /
![]() Região
de Portugal onde o / b / = / v / = / b
/
Região
de Portugal onde o / b / = / v / = / b
/
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOURCIEZ, Édouard. LATIM: Elemento número 1 da Lingüística Românica. Trad. José Pereira da Silva. Rio de Janeiro : CiFEFil, 2000.
COUTINHO, Ismael de Lima. Gramática Histórica. Rio de Janeiro : Ao Livro Técnico, 1976.
Dicionário Aurélio Eletrônico 2000.
Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa O Globo. Rio de Janeiro : Globo, [s/d].
Dicionário Módulo da Língua Portuguesa Silveira Bueno. São Paulo : Meca, [s/d]
Dicionário Prático da Língua Portuguesa Aurélio. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, [s/d].
DUBOIS, Jean. Dicionário de Lingüística, São Paulo : Cultrix, 1993.
FARIA, Ernesto. Gramática da Língua Latina. Brasília: FAE, 1995.
ILARI, Rodolfo. Lingüística Românica. São Paulo: Ática, 2000
LAUSBERG, Heinrich. Lingüística Românica. Tradução de Marion Ehrhardt e Maria Luísa Schemann. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1963.
LYONS, Jhon. Língua (gem) e Lingüística. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1987.
NETO, Serafim da Silva. Fontes do Latim Vulgar. O Appendix Probi. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1934.
NETO, Serafim da Silva. História do Latim Vulgar. Rio de Janeiro : Ao Livro Técnico, 1977.
SILVA, Thaïs Criatófaro. Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia de exercícios. São Paulo : Contexto, 2001.
TEYSSIER, Paul. História da Língua Portuguesa; tradução Celso Cunha. São Paulo : Martins Fontes, 1997.
Testamento de Dom Afonso II: (fragmentos). Século XIII (Documentação : Mosteiro de Vairão, 1214. O original encontra-se na Torre do Tombo: caixa 47 da Livraria, maço 3 da Mitra de Braga.
VIDOS, Benedek Elemér. Manual de lingüística românica. Trad. José Pereira da Silva, com revisão técnica de Evanildo Bechara. Rio de Janeiro : Eduerj, 1996.
[1] Esta letra foi introduzida por Pierre la Ramée (Petrus Ramus) apenas na Renascença. Por isso as letras v e j são conhecidas como “letras Ramistas”.
[2] Usa-se a letra v, mas é importante lembrar que esta não pertencia ao alfabeto latino.
[3] Como o latim vulgar era uma modalidade da língua falada, usa-se a expressão “ evolução fonológica”.
[4] Isto não é uma regra, encontra-se exemplo como o já citado baculus > vaclus, onde a permuta ocorre no início da palavra embora não seja tão comum.
[5] Forma hipotética.
[6] Lembrando de que o v apenas simboliza um som, pois a letra ainda não existia.
[7] Evoluídas no sentido de proveniência de outras e não no sentido de serem melhores que outras.
[8] Notar a influência da fase Pseudo-etimológica no título da obra, como o uso do ph ao invés de f e o uso do h onde este não ocasiona nenhum efeito fônico.
[1] Por ser um trabalho sucinto, não foram transcritas todas as definições encontradas nos dicionários pesquisados, porém aquelas mais conhecidas ou aceitas pelo senso comum. E ainda ressalto que não foram encontrados os significados de alguns termos, embora sejam de origem tupi.
2 Pontos de Gramática Histórica, 323.
3 Dados do IBGE, 2000.